(CAP SUR LA DÉMOCRATIE INTÉGRALE, TOWARDS INTEGRAL DEMOCRACY, RUMBO A LA DEMOCRACIA INTEGRAL, DIRETTI ALLA DEMOCRAZIA INTEGRALE, RICHTUNG INTEGRALE DEMOKRATIE)
(índice)
Preâmbulo
Muitas palavras centrais do nosso vocabulário político, começando pelas palavras democracia, liberdade, ditadura, igualdade, fraternidade, política, reforma, revolução, comunismo, socialismo, liberalismo, anarquismo, social-democracia, foram tão corrompidas que se tornaram quase imprestáveis. O mundo imaginado por George Orwell no romance 1984 é, neste particular, também o nosso.
Por exemplo, no uso corrente, a palavra democracia (o poder do povo, pelo povo e para o povo, parafraseando a memorável definição de Abraham Lincoln, conforme ao seu significado grego original) é empregada para significar um dos seus contrários — a saber, o poder de uma oligarquia constituída por presuntivos representantes do povo e pelos indivíduos por eles escolhidos e nomeados.

Do mesmo modo, socialismo ou comunismo (não no sentido pré-agrícola e pré-industrial do termo, mas no sentido pós-capitalista mais avançado, assente portanto nas aquisições das quatro revoluções industriais dos últimos 250 anos) — ou seja, a concepção de uma sociedade integralmente democrática, industrial e tecnologicamente avançada, sem classes socioeconómicas, sem Estado (isto é, sem um aparelho especial de dominação, coerção, coação e repressão, separado do colectivo dos cidadãos), baseada (i) na propriedade cooperativa, comunitária e pancomunitária dos meios sociais de produção, das condições gerais de produção e dos serviços colectivos e universais de protecção e apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural das populações, (ii) no controlo de gestão isonómico e democrático quer desses meios de produção quer dessas condições gerais de produção e desses serviços pelos seus operadores directos e pelos seus prestadores directos, respectivamente 1 — são palavras correntemente usadas para significar um dos seus contrários. Refiro-me à propriedade do Estado dos meios sociais de produção e/ou ao controlo total por uma sua inamovível oligarquia dirigente da actividade económica e da vida quotidiana de um país, como sucedia, por exemplo, em graus e modos diversos, na China durante o reinado do imperador Chen-Tsong (1068-1085) da dinastia Song; no Império Inca (que abrangia territórios que pertencem hoje ao Peru, à Bolívia, à maior parte do Equador e a uma grande porção do Chile), a partir do reinado de Pachacutic (de 1438 a 1471); na ex-República Socialista Federativa Soviética da Rússia (de Julho de 1918 a Março de 1921) e na ex-URSS (de 1928 a 1987)2.
Mas o mais extraordinário desvirtuamento de uma palavra talvez seja o que atingiu o significado de anarquismo (a concepção de uma sociedade “liberta da exploração económica” e “da tutela eclesiástica ou política,” baseada “[n]um regime económico Socialista, [o qual] não pode ser criado por decretos e estatutos de um governo, mas apenas pela colaboração solidária dos trabalhadores manuais e intelectuais em cada um dos ramos especiais da produção; isto é, através da exercício da gestão de todas as fábricas pelos próprios produtores sob uma forma que permita que os grupos separados, as fábricas e os ramos da indústria sejam membros independentes do organismo económico geral e levem sistematicamente a cabo a produção e a distribuição dos produtos que interessam à comunidade na base de acordos mútuos livremente celebrados” [Rudolf Rocker 1938]) que é correntemente empregada para significar um dos seus contrários — a saber, a desordem, a confusão, o tumulto e o caos social 3.
Poderíamos, como já tem sido sugerido, abandonar estas palavras e inventar outras, novas, com o sentido prístino que as actuais perderam quase totalmente. Mas, além de não garantir que não pudessem, também elas, acabar por serem corrompidas, isso também significaria repudiar e deixar para trás, entregue ao esquecimento ou à deturpação, uma longuíssima história de lutas pela conquista de direitos de cidadania (como, por exemplo, a liberdade de expressão e a liberdade de associação), pelo estabelecimento de garantias jurídicas contra o abuso de poder (como, por exemplo, o habeas corpus e a presunção de inocência), pela construção de instituições de autodefesa colectiva (como, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores assalariados), pela concretização de aspirações e projectos de emancipação da humanidade (como, por exemplo, o fim da divisão da sociedade em classes socioeconómicas e o fim concomitante da luta de classes) que está intimamente ligada com essas palavras.
Creio, por isso, ser mil vezes melhor (mais acertado, útil e frutuoso) reclamar os conceitos que essas palavras já exprimiram plenamente, outrora, restaurando e clarificando o seu significado prístino no confronto com as realidades actuais. É nesse sentido — congruente com o propósito enunciado no seu título geral — que deve ser lido o texto que se segue.
A suprema mistificação
A acreditar na quase totalidade dos comentadores dos meios de comunicação social e em dezenas, ou centenas, de estudos académicos, o socialismo (ou o comunismo) morreu em 1989-1991, com a queda do muro de Berlim e a implosão da URSS, e o capitalismo (ou a “economia de mercado”) triunfou de uma vez por todas, depois da prolongada “guerra fria” que opôs os países do “mundo livre” (ou “bloco ocidental”), chefiados pelos EUA, aos países da “cortina de ferro” (ou “bloco comunista”), chefiados pela URSS.
Ambas as afirmações são falsas. A narrativa de uma luta titânica entre o capitalismo e o comunismo de que os EUA e a URSS seriam, respectivamente, os cabecilhas, foi, é verdade, incessantemente recontada durante décadas a fio, com grande profissionalismo, pelos serviços de agitação e propaganda dos dois lados. Mas essa narrativa é falsa. De facto, trata-se da maior mistificação do século XX, denunciada como tal, desde muito cedo, por observadores lúcidos — e amiúde, também, corajosos e intelectualmente coerentes — de diferentes orientações políticas (mas todos de acordo sobre a necessidade de superar o capitalismo), dos quais os politólogos contemporâneos parecem nunca ter ouvido falar4.
Por exemplo, já em Setembro de 1918, perante as medidas tirânicas tomadas na Rússia pelo partido bolchevique5 que o transformaram em partido único no poder (em particular a dissolução da Assembleia Constituinte em Janeiro de 1918; a passagem de 3 para 6 meses dos períodos de eleição para o Congresso Panrusso dos Sovietes; os poderes reforçados da Tchéka [polícia política], a partir de Março de 1918, para prender e julgar sem qualquer limitação legal nem escrutínio público; a expulsão dos deputados do Partido Social-Democrata [menchevique] e do Partido Socialista Revolucionário do Comité Central Executivo do 5º Congresso Panrusso dos Sovietes e dos Sovietes locais, em Junho de 1918; a expulsão desses órgãos dos deputados do partido que havia sido seu aliado no governo até Março de 1918 — o Partido Socialista Revolucionário de Esquerda —, acompanhada da proibição deste partido e da sua imprensa e da prisão dos seus dirigentes, falsamente acusados de sedição6, em Julho de 1918) Rosa Luxemburgo advertia:
«Com certeza, toda e qualquer instituição democrática tem os seus limites e as suas insuficiências, coisas que indubitavelmente partilha com todas as outras instituições humanas. Mas o remédio que Lenine e Trotsky descobriram, a eliminação da democracia, é pior do que a doença que alegadamente ele deveria curar, porque estanca a própria fonte viva da qual pode vir a correcção de todas as insuficiência congénitas das instituições sociais. Essa fonte é a vida política activa, enérgica, sem entraves, das massas mais amplas do povo.»
«A liberdade só para os apoiantes do governo, só para os membros de um partido, por mais numerosos que sejam, não é liberdade. A liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente do nosso. Não por fanatismo de “justiça”, mas porque tudo o que há de instrutivo, de salutar e de purificador na liberdade política depende disso e perde a sua eficácia quando a “liberdade” se torna um privilégio.»
«Sem eleições gerais, sem uma irrestrita liberdade de imprensa e uma irrestrita liberdade de reunião, sem uma livre luta entre opiniões, a vida morre em qualquer instituição pública, torna-se numa mera aparência de vida, na qual só a burocracia se mantém como elemento activo. É uma lei à qual ninguém consegue escapar. A vida pública adormece gradualmente e algumas dúzias de dirigentes partidários de inesgotável energia e ilimitado idealismo dirigem o governo. Entre eles, aqueles que na realidade governam são uma dúzia de eminentes cabecilhas, ao passo que uma elite da classe trabalhadora é convidada de tempos a tempos para reuniões, a fim de aplaudir os discursos dos chefes e aprovar por unanimidade as moções que lhe são propostas pela cúpula; no fundo um governo, portanto, de camarilha — uma ditadura, é bem verdade, não do proletariado mas sim de um punhado de políticos, quer dizer, uma ditadura no sentido burguês do termo, no sentido da dominação jacobina (o alargamento do intervalo entre os períodos de eleição para o congresso dos sovietes de 3 para 6 meses!). Mais ainda: um tal estado de coisas só pode levar à selvajaria na vida pública: atentados, fuzilamento de reféns, etc.»
E noutra passagem do mesmo texto afirmava em jeito de conclusão:
«“Ditadura ou democracia”, eis como a questão é posta tanto pelos bolcheviques como por Kautsky. Este último é, naturalmente, a favor da “democracia”, ou seja, da democracia burguesa [mutato nomine, oligarquia electiva liberal ─ cf. nota 96 e Post-scriptum do presente texto, N.E.], porque ele opõe-na à alternativa da revolução socialista. Lenine e Trotsky, por outro lado, são a favor da ditadura, em contraposição com a democracia, e, por conseguinte, a favor da ditadura de um punhado de pessoas, isto é, a favor da ditadura segundo o modelo burguês. São dois pólos opostos, ambos igualmente muito distantes de uma política genuinamente socialista.»7

Rosa Luxemburgo não teve tempo de ver o efeito (nulo) das suas críticas e advertências aos bolcheviques russos, porque foi assassinada pelo governo alemão um ano mais tarde.
Em 1920, porém, o seu camarada Otto Rühle8, constatando os tremendos obstáculos que se levantavam na Rússia a uma “política genuinamente socialista” em resultado do seu grande atraso industrial, tecnológico e cultural, agravado pelas destruições da guerra mundial e da guerra civil e pela política antidemocrática do partido único no poder (o partido bolchevique), advertia: «A Rússia ainda está longe, a quilómetros de distância, do comunismo. A Rússia, o primeiro país a passar por uma revolução e a levá-la a cabo vitoriosamente, será o último país a chegar ao comunismo.»9. Em Setembro de 1920, no final de uma visita à Rússia, Bertrand Russell escrevia:
As ideias fundamentais do Comunismo não são de modo nenhum impraticáveis e, se fossem realizadas, aumentariam imensuravelmente o bem-estar da humanidade As dificuldades que têm de ser enfrentadas não se prendem com as suas ideias fundamentais, mas com a transição do capitalismo para o comunismo. (…) O Bolchevismo pode ser defendido, talvez, como uma terrível disciplina através da qual uma nação atrasada vai ser industrializada, mas, como uma experiência planeada de Comunismo, falhou 10.
No mesmo livro, Bertrand Russell acrescentava:
Afiguram-se-me possíveis três saídas da presente situação. A primeira é que o Bolchevismo acabe por ser derrotado pelas forças do capitalismo. A segunda é a vitória dos Bolcheviques, acompanhada por uma perda completa dos seus ideais, e a instauração de um regime de imperialismo Napoleónico. A terceira é uma prolongada guerra mundial, na qual a civilização irá abaixo, e todas as suas manifestações (incluindo o Comunismo) serão esquecidas.
Como sabemos, foi a segunda saída prevista por Bertrand Russell que se verificou, sem que isso, porém, tivesse sido um obstáculo à realização de uma forma mitigada da terceira saída: a 2ª guerra mundial. Dezoito anos depois, Boris Souvarine 11 fazia notar a nova situação que tinha, entretanto, sobrevindo com a autodestruição do partido bolchevique e o estabelecimento, sobre os seus destroços sanguinolentos, do domínio absoluto de Estaline e da sua súcia, o regime de “imperialismo Napoleónico” previsto por Russell : «A URSS não é senão uma mentira da base ao topo. Nas quatro palavras [União, Repúblicas, Socialistas, Soviéticas, N.E.] que estas quatro iniciais representam, há nada menos do que quatro mentiras»12.
Um ano antes, em 1937, Cyril Leonel Robert James13 tinha afirmado no mesmo sentido: «O regime Estalinista é o regime mais cruel e tirânico que existe à face da Terra [o regime Hitleriano, embora com menos anos de vida à época, em breve iria disputar ao regime Estalinista esta palma do seu palmarés, N.E] e identificá-lo com o Socialismo é fazer prova de uma grosseira ignorância ou de uma cobardia igualmente censurável. As provas aí estão para quem as quiser compulsar.»14 Em 1939, C.L.R. James traduz em Inglês o estudo pioneiro de Boris Souvarine, Estaline: un aperçu historique du bolchevisme (1935) [Estaline: um panorama histórico do bolchevismo] 15, onde essas provas foram, pela primeira vez, reunidas de maneira abrangente e inteligível. Em 1937 e 1938, Souvarine completá-las-á com uma análise minuciosa dos julgamentos encenados de Moscovo, Cauchemar en URSS (1937) e Aveux à Moscou (1938), e com uma análise igualmente minuciosa da situação do operariado e do campesinato da URSS na mesma época: L’Ouvrier Soviétique (1937) e Le Paysan Soviétique (1937)16.
Ante Ciliga (croata que os meandros da história fizeram com que fosse, sucessivamente, cidadão austríaco, até 1920; italiano, até 1945; croata-jugoslavo, até 1991; e croata, depois de 1991) e Victor Serge (belga francófono de origem russa) têm em comum, entre outras coisas, o facto de serem ambos estrangeiros que cumpriam penas de prisão e deportação na URSS, na década de 1930, por terem aderido à “Oposição de Esquerda” (1923-1927) a Estaline, o chefe da oligarquia que, depois de derrotada essa oposição, passou a dirigir sem entraves a URSS, a partir de 1928. São ambos libertados e expulsos da URSS em 1935 e 1936, respectivamente, pouco antes do início dos julgamentos encenados de Moscovo, a ponta visível de um grande iceberg: o processo de assassinato em massa de todos quantos Estaline encarava como reais ou potenciais ameaças à sua entronização como chefe autocrático da nova oligarquia burocrática dirigente da URSS — um processo que culminará com o assassinato de Leon Trotsky, no México, em Agosto de 1940, por um agente da NKVD (o corpo de polícia sucessor, nesta época, da Tchéka) cumprindo ordens directas de Estaline 17.
É muito plausível que Ante Ciliga e Victor Serge tivessem sido sentenciados à morte e fuzilados se tivessem permanecido mais tempo na prisão ou em deportação. Mas um golpe de sorte inesperado vai protegê-los desse destino. Ambos beneficiarão de um decreto “apaziguador” que Estaline concordou em fazer para agradar a Franklin Delano Roosevelt, presidente dos EUA, e lhe permitir receber o aval do senado americano para a sua decisão de estabelecer relações diplomáticas entre o seu país e a URSS. Esse decreto retirava à polícia política (a GPU, depois a GUGB, sucessoras da Tchéka) o direito de infligir penas de prisão contra cidadãos estrangeiros, limitando as suas medidas repressivas à expulsão da URSS. Dali em diante, só os tribunais regulares poderiam infligir penas de prisão ou deportação a estrangeiros. Ora, como Ciliga e Serge tinham sido presos e deportados pela GPU, puderam reclamar a sua expulsão da URSS. Além disso, Victor Serge beneficiou também de uma campanha internacional de solidariedade conduzida por escritores francófonos.
Já em liberdade, Serge publica Destin d’une Révolution (1937) [Destino de uma Revolução]18 e Ciliga publica Dix Ans au Pays du Mensonge Déconcertant (1938) [Dez Anos no País da Mentira Desconcertante],19 dois livros, em grande parte testemunhais, que corroboram com novos factos as conclusões dos trabalhos de Souvarine20. E é em perfeita coerência e conhecimento de causa que o mesmo Boris Souvarine dirá, 27 anos depois do seu veredicto de 1938 sobre a URSS, que afirmar que a URSS é socialista constitui «a mentira suprema», e «dessa mentira principal decorrem todas as mentiras subordinadas que infestam a vida soviética e que infectam as relações do Estado Soviético com o mundo externo.»21
O teor sociopolítico e socioeconómico dessa mentira suprema que consistia em “vender gato por lebre” numa escala grandiosa foi bem resumido por Antonie Pannekoek22 em 1940 (mesmo se a sua expressão “capitalismo de Estado” for tomada com um grão de sal, como sugiro que o façamos23)
Tal como na Europa Ocidental a burguesia [entenda-se: a classe média que surgiu entre o povo e a nobreza/alto clero e que iria concentrar nas suas mãos as novas formas de riqueza e de poder que a tornariam classe dominante, N.E.] surgiu do seio do povo miúdo de artesãos e camponeses, incluindo alguns aristocratas, por meio de habilidade, sorte e astúcia, assim também a burocracia dirigente Russa surgiu da classe proletária e dos camponeses (incluindo ex-funcionários do Estado czarista) por meio de habilidade, sorte e astúcia. A diferença está no facto de que, na URSS, os membros da burocracia dirigente não possuem os meios de produção individualmente, possuem-nos, sim, colectivamente. Destarte, a sua competição mútua também tem de tomar outras formas. Isto significa uma diferença fundamental no sistema económico: a produção e a exploração colectiva, planeada, em vez da produção e a exploração individual e casuística; capitalismo de Estado em vez de capitalismo privado. Para as massas trabalhadoras, porém, a diferença é escassa, não fundamental; mais uma vez são exploradas por uma classe média. Mas, desta vez, a exploração é intensificada pela forma ditatorial do governo, pela ausência total daquelas liberdades que, no Ocidente, tornaram possível a luta contra a burguesia24.
O socialismo nunca existiu, mas é estulto afirmar que nunca existirá
O socialismo (ou o comunismo, os dois termos são intercambiáveis) não foi derrotado pelo capitalismo nem se desintegrou, porque nunca existiu em país nenhum como uma formação socioeconómica e sociopolítica concreta, caracterizada pela extensão da democracia a todas as esferas públicas da vida social e edificada com base no desenvolvimento das conquistas civilizacionais mais avançadas (algumas arrancadas a ferros) que a humanidade conseguiu alcançar na era capitalista: os direitos de cidadania (liberdade de expressão, de reunião, de associação, de manifestação, de imprensa, de greve, sufrágio universal); a cooperação científica internacional; a sociedade urbana e industrial; a educação e a saúde públicas e universais; a maquinofactura, a cibernética, a informática e a indústria dos computadores (de que dependem, por sua vez, a robótica e a automação industrial); a revolução tecnológica na agricultura — a industrialização da produção agrícola e a aplicação da química e da biologia (zoologia, botânica, microbiologia, ecologia, genética) à agricultura —; a inovação tecnológica incessante dos meios industriais de produção, transporte e comunicação (incluindo a Internet e a WWW) incentivada pela necessidade incessante que o patronato sente de recuperar os ganhos que os trabalhadores obtêm através da sua luta (redução da duração da jornada de trabalho, aumento de salários, direito a férias pagas, etc.); a produção de energia eléctrica abundante, barata, limpa, segura e, em certos casos, inexaurível, nomeadamente (mas não exclusivamente) através de (i) fontes de energia geotérmica, (ii) centrais energéticas de fissão nuclear baseadas em reactores de 4.ª geração — como, por exemplo, os reactores de neutrões rápidos e os reactores que exploram o tório como combustível e usam o sal fundido como refrigerante —, (iii) centrais energéticas baseadas em reactores de fusão termonuclear do tipo tokamak, 25 (iv) satélites de captação de energia solar em órbita geoestacionária. E essa concepção de sociedade não é uma ideia morta, porque esteve sempre viva, e continua viva, como projecto político, nos escritos de algumas pessoas e na imaginação inspiradora das aspirações e lutas emancipatórias de milhões de outras por esse mundo fora.
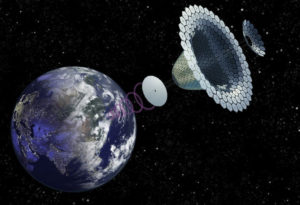
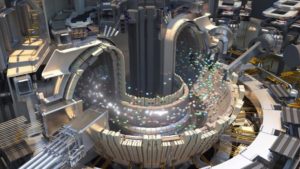

O que se desintegrou nos anos 1989-1991 na ex-URSS (ou ex-União Soviética) e nos países seus satélites da Europa de Leste (a Jugoslávia não fazia parte desse lote) não foi o comunismo (ou o socialismo), mas o sistema estalinista (para lhe dar um nome não descabido e fácil de memorizar), uma variante de um novo sistema de exploração do homem pelo homem, o colectivismo oligárquico, um regime sui generis de quimera social [ver nota 23 para uma caracterização mais pormenorizada] que se instalou vitoriosamente, em 1928, na Rússia, um país gigantesco (o maior país do mundo), multiétnico, multilingue e multinacional, predominantemente rural (em 1917, aquando da sua revolução popular anti-czarista, a Rússia tinha uma população de 174 milhões de habitantes, dos quais só 24 milhões viviam nas cidades, entre os quais apenas 3 milhões eram trabalhadores assalariados na indústria), com uma agricultura vetusta em todas as suas componentes heterogéneas (senhorial, comunitária, patriarcal), que conseguiu fazer grandes progressos nos mais variados domínios (industrial, agrícola, tecnológico, educacional, científico, desportivo) graças a um desenvolvimento planificado da sua economia, mas politicamente comandado por uma oligarquia (partidária e estatal) liberticida, pérfida e brutal que, para se legitimar aos olhos dos povos que dominava com mão de ferro, jurava a pés juntos, todos os dias (e com a concordância expressa das oligarquias liberais do Ocidente), ser o garante do “socialismo realmente existente” ou “socialismo real.” 26
Também não é verdade que o capitalismo tenha triunfado de uma vez por todas em 1989-1991. Bem pelo contrário: embora não tenha actualmente rivais dignos desse nome, nem nunca os tenha tido — salvo por breves períodos, em aspectos restritos e em territórios muito reduzidos (Paris de 18 de Março a 28 de Maio de 1871; Petrogrado e Moscovo de Março de 1917 a Março de 1918; as Astúrias de 5 a 19 de Outubro de 1934; a Catalunha, e em especial Barcelona, de Julho a Dezembro de 1936; Portugal de Maio de 1974 a Maio de 1975) — e embora seja mais fácil para muita gente (talvez mesmo para a maioria das pessoas) imaginar o fim do planeta Terra do que o fim do capitalismo 27, a verdade é que o capitalismo está muito longe de estar de boa saúde económica e moral. Isto vale quer para os países onde o capitalismo industrial primeiro se desenvolveu (Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, EUA), sobre os quais terei mais coisas a dizer na próxima secção, quer para o Japão pós-2ª guerra mundial, onde ele se reconfigurou, embora muito parcialmente, sob a égide da potência militar ocupante (os EUA), mas que continua a braços com as persistentes consequências da estagnação económica herdadas dos chamados 20 Anos Perdidos (1990-2010). Vale também para a própria China pós-1978, que muitos observadores consideram ser o maior êxito económico do último meio século, mas onde a industrialização e a urbanização aceleradas 28 foram acompanhadas, a par e passo, pelo enorme crescimento da exploração dos trabalhadores, da corrupção dos pequenos e grandes detentores do poder e das desigualdades socioeconómicas entre as diferentes classes e camadas da população, que são sistémicas na China, 29 assim como pelo aumento brutal da poluição, sobretudo a poluição do ar que mata 1 milhão de chineses por ano30

A turbulência irremediável e o dinamismo ora rútilo ora lúgubre do capitalismo
As crises regionais e sectoriais ‒ financeiras e económicas ‒ do capitalismo sucedem-se umas atrás das outras 31 — 1987, 1992, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001-2002, 2007-2008, só para falar das principais nos últimos 30 anos da sua “globalização” transnacional e hipercomercial — com o seu conhecido cortejo de danos colaterais, apresentados sob o manto virtuoso da “austeridade”: liquidação de milhares de postos de trabalho, redução de salários e pensões de aposentação, refinanciamento (com somas colossais do erário público e transferindo as perdas para a massa dos contribuintes, especialmente para os trabalhadores assalariados) de bancos e outras firmas multinacionais «too big to fail and too big to jail» («demasiado grandes para entrarem em falência e demasiado grandes para os seus gestores irem parar à cadeia» sem arrastarem consigo, na sua derrocada, todo o sistema capitalista), degradação e desmantelamento de serviços públicos colectivos de vocação universal (como os serviços nacionais de saúde e a escola pública), e o ataque aos direitos laborais, incluindo a elevada rotatividade da força de trabalho, a proliferação dos contrato a prazo e de trabalho precário e a tempo parcial.

O crescimento das desigualdades de riqueza monetária ou monetizável (rendimentos, meios sociais de produção e património) entre capitalistas e trabalhadores ‒ vulgo, entre ricos e pobres ‒ dentro dos países e mesmo entre os países32, continua imparável na era da segunda globalização capitalista. Hoje em dia, chegou-se ao ponto de haver menos de 1% (0,8%) da população mundial, uma pequeníssima minoria de magnates capitalistas, que possui quase metade (44,8%) da riqueza mundial, e de existirem 26 pessoas que possuem mais riqueza (1.400.000.000.000 milhões de dólares) do que metade da população mais pobre do planeta (3.800 milhões de pessoas)33.
Imparáveis continuam a ser, também, a desindustrialização relativa (entenda-se, o decréscimo relativo da indústria transformadora) nos países onde o capitalismo se enraizou primeiro; a deslocalização, subcontratação e externalização (= terceirização no Brasil) [Ingl. outsourcing] de muitas indústrias para países de mão-de-obra abundante, mais barata e sem direitos; a globalização capitalista 2.0 ou transnacionalização (entenda-se, a dispersão de diferentes fases e processos de produção por países diferentes, mas interligando-as e integrando-os no âmbito de firmas transnacionais, constituindo as chamadas “cadeias globais de valor”); a “uberização” das relações de produção (entenda-se, a hiperglobalização, fragmentação e precarização do trabalho assalariado por plataformas digitais [Ingl. gig work] do tipo Airbnb, Uber, Deliveroo, Amazon Mechanical Turk, Figure Eight e por firmas que alugam força de trabalho) e a proverbial inexpugnabilidade dos paraísos fiscais onde muitos super-ricos ‒ capitalistas, gestores e políticos rapinantes ‒ escondem as suas fortunas para não pagarem impostos34. Na Rússia, após a desintegração da URSS, a implantação, na era de Yeltsin, do capitalismo globalizado 2.0,35 longe de corresponder a uma melhoria significativa das condições materiais de vida da maioria da população como auguravam todas as sumidades da economia anticlássica, traduziu-se, pelo contrário, numa tremenda regressão económica e social da qual a manifestação mais dramática foi o aumento enorme e abrupto da taxa de mortalidade e a diminuição enorme e abrupta da esperança de vida, especialmente dos homens, entre 1989 e 200336.
A situação não é animadora nem no próprio cerne do capitalismo mundial, na megametrópole da segunda “globalização” capitalista. O conceito de “estagnação secular” (do capitalismo) formulado pelo economista Alvin Hansen, em 1934-1938, durante a Grande Depressão Económica que teve início em 1929 nos EUA e que só terminou, de facto, com a economia de guerra (produzir armas de destruição maciça em grande escala) e a 2ª Guerra Mundial (com a sua colossal mortandade e o seu não menos colossal rol de destruições materiais), reapareceu subrepticiamente (porque Alvin Hansen nunca é citado) em 2012, num artigo do economista Robert J. Gordon, e regressou com estrépito e em força, em 2013, pela mão de um dos mais reputados defensores do capitalismo, o economista Larry Summers, ministro das finanças do presidente Clinton, director do Conselho Económico Nacional do presidente Obama, ex-reitor da Universidade de Harvard37.
As guerras locais e as invasões de países mais fracos por países mais fortes têm-se sucedido desde o fim da guerra do Vietnam: de Timor-Leste às Malvinas (ou Falklands), do Panamá à Jugoslávia, do Iraque ao Afeganistão, da Líbia à Síria, para recordar apenas alguns exemplos. O risco permanente (inclusive por falso alarme ou erro humano) de uma guerra conducente a um holocausto nuclear aumentou, em vez de diminuir, desde o fim da “guerra fria”38

O mercado e a «economia de mercado»
Os economistas que são apologistas do capitalismo puro e duro e que têm pretensões teóricas (autores como, por exemplo, Ludwig von Ludwig von Mises [1881-1973], Friedrich August von Hayek [1899-1992], Milton Friedman [1912-2006]), fazem questão de salientar que (i) não há capitalismo sem mercado, (ii) que o capitalismo é sinónimo de um sistema de mercado autorregulado à escala mundial e (iii) que este sistema é o princípio fundamental de organização da sociedade capaz de resolver todas as suas dificuldades. Daí que — acrescentam — seja inteiramente justificado qualificar o capitalismo de Economia de Mercado. Pelo seu lado, os economistas, juristas e políticos que são mercadistas, tal como os precedentes, mas que deles se distinguem por serem adeptos do ordoliberalismo, preferem falar, a este propósito, de Economia Social de Mercado.
Nada se torna mais claro com esta terminologia. A “economia” (a produção e a distribuição de bens e serviços necessários à nossa subsistência, ao nosso bem-estar e a nosso desenvolvimento cultural) é uma das funções da organização social, razão pela qual falar de “economia social” é o mesmo que falar de “fogo ardente” ou de “chuva húmida”. Convém lembrar, por outro lado, que os mercados antecederam o capitalismo em milhares de anos, razão pela qual não se pode identificar mercado com capitalismo. Até ao século XIX, os mercados nunca foram mais do que elementos acessórios da actividade económica. Nos casos em que conheciam um desenvolvimento mais amplo, como no sistema mercantilista, os mercados expandiam-se sob o controlo de uma administração estatal centralizada que procurava a autossuficiência tanto ao nível da economia doméstica do camponês como no que se referia à vida nacional. Com efeito, a regulamentação e os mercados modernos cresceram juntos.
O mercado “autorregulado”, o mercado como “ordem espontânea”, o mercado “livre” de que Mises, Hayek e Friedman nos falam nos seus escritos, era desconhecido até ao primeiro quartel do século XIX, mesmo na Inglaterra, o país onde o modo capitalista de produção industrial tomou primeiro a dianteira. A sociedade do século XIX que isolou pela primeira vez a actividade económica e a imputou a uma motivação económica à parte, foi uma inovação singular. Mas essa inovação não resultou de uma “ordem espontânea” se, por “ordem espontânea”, se entender, no presente contexto, uma ordem isenta de regulamentação, coacção, coerção e repressão estatais, uma ordem construída sem tensões explosivas e duras lutas de classes. Foi, bem pelo contrário, o resultado culminante de uma grande transformação social onde todos esses ingredientes estiveram sempre presentes de uma forma intensa. 39
É à luz destes factos que poderemos compreender os pressupostos extraordinários que presidem a uma “economia de mercado”, ou seja, a uma economia regida pelo modo capitalista de produção tal como o conhecemos desde a revolução industrial. Uma “economia de mercado” é um sistema económico regulado pelos preços de mercado. Pressupõe a existência de mercados em que a oferta de bens e serviços económicos disponíveis a determinado preço seja igual à procura ao mesmo preço. Uma economia deste tipo assenta na expectativa de que os seres humanos (pelo menos os adultos) se comportem de modo a conseguir um máximo de ganhos monetários. Pressupõe a livre circulação dos capitais e o arrendamento livre da terra. Pressupõe a presença da moeda, que funciona simbolicamente como dinheiro, como poder de compra, nas mãos dos seus detentores. A autorregulação implica que haja concorrência perfeita entre os vendedores40, que toda a produção se destina a ser vendida no mercado, que todos os rendimentos resultam dessa venda. A produção será, portanto, regulada pelos preços, porque os lucros dos que dirigem a produção dependem dos preços, e a distribuição dos bens e serviços económicos (doravante, e para abreviar, bens económicos ou bens) dependerá também dos preços, porque os preços são a origem dos rendimentos, e é por meio desses rendimentos que os bens produzidos são distribuídos pelos membros da sociedade. De acordo com estes pressupostos, a ordem da produção, da troca e da distribuição dos bens será assegurada exclusivamente pelos preços de mercado.
Existem, por conseguinte, mercados para todos os elementos da indústria — não só para os bens (produtos de consumo, matérias primas, matérias auxiliares, ferramentas, edifícios, máquinas, máquinas-ferramenta e serviços de todo o género), mas também para a força de trabalho (vulgo, a mão-de-obra), os recursos naturais ligados à litosfera (vulgo, a terra) e o dinheiro. Os preços correspondentes chamam-se lucros, salários, rendas e juros, respectivamente. Os próprios termos usados indicam já que os preços são a origem de rendimentos. O juro é o preço da utilização do dinheiro e forma o rendimento dos que estão em condições de o fornecer (banqueiros, prestamistas, etc.). A renda é o preço da utilização da terra e forma o rendimento dos que estão em condições de a fornecer (terratenentes, senhorios, imobiliárias, etc.). Os salários são o preço da utilização da força de trabalho e formam o rendimento daqueles que a vendem/alugam (trabalhadores por conta de outrem). O lucro é o rendimento dos chamados empreendedores e investidores, aqueles que se apropriam dos ganhos monetários resultantes da venda dos bens económicos por um preço superior ao dos bens que entraram na sua produção.
Surge depois um outro grupo de pressupostos que se reportam ao Estado, aos órgãos do poder político que o controlam e às suas políticas públicas. 1) Nada deve ser feito que impeça a formação dos mercados. 2) Tudo deve ser feito para impedir que os rendimentos se formem por outra via que não a venda/aluguer. 3) Não deve haver interferência no que concerne ao ajustamento dos preços às mudanças que se registem nas condições de mercado, sejam quais forem os preços considerados — os preços dos bens económicos, da força de trabalho, da terra ou do dinheiro. Ou seja, para que a “economia de mercado” (mutato nomine, o capitalismo) possa funcionar, «não só devem existir mercados para todos os elementos da indústria, como não deve ser tomada qualquer medida política que influencie a acção desses mesmos mercados. Nem os preços, nem a oferta, nem a procura devem ser fixados ou regulados — tais são as únicas políticas e medidas que assegurem a autorregulação do mercado, criando as condições em que aquele se tornará a única força organizadora na esfera económica.»41
Por outras palavras, para que a indústria funcione no modo capitalista de produção, a força de trabalho, a terra e o dinheiro têm de ser organizados em mercados que se articulem entre si e formem um Grande Mercado Único (One Big Market, na língua favorita dos economistas mercadistas) e o Estado, o poder político (governo, parlamento ou câmaras de representantes [se existirem], tribunais, autarquias locais [se existirem]), a administração pública e as políticas públicas devem todos concorrer para que isso seja conseguido com o mínimo de obstáculos e percalços. Daí o termo “economia de mercado”. Daí também a conclusão (umas vezes implícita, outras explícita) segundo a qual uma economia de mercado implica e exige uma “sociedade de mercado”, uma sociedade organizada em função do mercado.
Porém, quando o raciocínio chega a este ponto, levanta-se um problema muito bicudo e, na verdade, insolúvel. Os bens produzidos neste quadro são, evidentemente, mercadorias, entendendo por “mercadorias” produtos fabricados, ou serviços prestados, com vista à sua venda no mercado. Todavia, a força de trabalho e a terra não são, evidentemente, mercadorias. Quanto ao dinheiro, trata-se de uma mercadoria muito especial, radicalmente diferente de todas as outras, que suscita um tratamento também ele especial e que conflitua com a ideia de mercado autorregulado.
As mercadorias fictícias
A força de trabalho é tão-somente um nome que damos a uma capacidade de acção polimorfa que é específica do organismo humano; acção polimorfa à qual damos, por sua vez, o nome de trabalho. A força de trabalho é concomitante à própria vida humana, a qual, por seu turno, não é produzida para venda no mercado. Acresce que a força de trabalho não pode ser separada da pessoa sua detentora para ser armazenada e depois mobilizada, sob a forma de trabalho, numa ocasião considerada mais propícia.
A terra é tão-somente um outro nome que damos à “Natureza” (em particular à litosfera do nosso planeta e às formas de vida que lhe estão vinculadas, a sua biosfera), a qual, todos concordaremos, não foi produzida pelo homem.
Enfim, o dinheiro é, como explicou Adam Smith, «o poder de comandar o trabalho dos outros», ou seja, no modo capitalista de produção, o poder de comandar a força de trabalho dos outros. Nessa qualidade, o dinheiro cumpre também várias funções derivativas e secundárias no modo capitalista de produção :1) a de equivalente geral (meio geral de pagamento) socialmente aceitado do valor de troca de todas as mercadorias ; 2) a de medida do valor de troca de todas as mercadorias (ou seja, como estalão do preço e unidade de conta de todos os bens e serviços vendíveis); 3) a de meio de circulação; 4) a de reserva imobilizada de valor (ou tesouro), 5) e a de moeda universal, sob diferentes formas de dinheiro de crédito. A função 3) é uma condição necessária das funções 1), 2) e 5). A função 4) é o dual da função 3).
Como equivalente geral de todas as mercadorias, o dinheiro não se pode confundir com as mercadorias que se confrontam através dele nos actos de compra e venda. Tem, por isso, de tomar uma forma concreta, separada das mercadorias para as quais serve de medida. Regra geral, a forma canónica que toma no modo capitalista de produção é a de lingotes de ouro armazenados pelos Bancos Centrais e também, desde 1944, pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Como estalão dos preços e unidade de conta, o dinheiro é conhecido como moeda e recebe um nome oficial (libra esterlina, dólar, iene, euro, renmimbi, etc.) que lhe é atribuído, regra geral, pelo poder de Estado, o qual se encarrega também de assegurar o seu curso legal e a convertibilidade dessa moeda noutras moedas (sem qualquer referência ao ouro desde 1971, o que levanta grandes dificuldades ao funcionamento da “economia de mercado.” 42).
Como meio geral de circulação, o dinheiro assume muitas formas diversas, quer materiais e fungíveis (notas de banco, peças metálicas), quer escriturais (cartões de débito, cartões de crédito, cheques, obrigações, títulos de tesouro, etc.), quer virtuais e fungíveis (criptomoedas como o Bitcoin, Ethereum, etc.) 43). É nesta função que assenta o sistema de crédito [função 5)]
A quarta função derivativa, a de reserva de valor ou tesouro, é a função derivativa mais popular do dinheiro, como se pode constatar pela apetência que suscitam as contas-poupança, os títulos de tesouro e produtos financeiros afins, assim como, num outro plano, lotarias como o Sorteo Extraordinario de Navidad (vulgo El Gordo), em Espanha, o Powerball nos EUA e o Euromilhões.44.
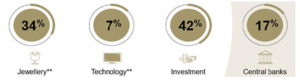
O ponto importante a reter desta breve descrição das funções derivativas do dinheiro no modo capitalista de produção é o seguinte. O ouro tem uma dupla natureza no modo capitalista de produção. Por um lado é, evidentemente, um bem (um valor de uso) que é normalmente produzido para venda no mercado. Nesse sentido, é uma mercadoria. Todavia, quando cumpre as funções de dinheiro, em particular a função de reserva de valor, o ouro deixa de ser um valor de uso produzido para venda no mercado — e, portanto, uma mercadoria como qualquer outra — visto que o seu valor de uso é exclusivamente o de servir de equivalente geral a todas as mercadorias que são transaccionadas no mercado. Passa a ser ouro monetário. (Quem diz o ouro, diz qualquer outro metal ou material que possa ser escolhido como dinheiro, equivalente geral).
É comum que as objecções à existência de um equivalente material como requisito do sistema de crédito usem como argumento o aparente fim do papel do ouro, no passado recente, como base formal do sistema monetário internacional. Mas a objecção não colhe. Sintomaticamente, o ouro continua a ser aceitado como meio de pagamento e valor de reserva a nível internacional. Não se pode dizer o mesmo de qualquer outra mercadoria, o que parece indicar que o ouro não deixou de ser uma mercadoria especial e que o é porque uma parte considerável do seu acervo total (59% como vimos) foi excluída do universo das mercadorias para desempenhar com exclusividade o papel de equivalente universal do valor, o papel de ouro monetário.
|
Posição ordinal (em Novembro 2021) |
País/Instituição bancária transnacional |
Reservas de ouro |
Percentagem do ouro nas reservas cambiais |
| 1 | EUA | 8.133,5 | 65,6% |
| 2 | Alemanha | 3.359,1 | 65,2% |
| — | Fundo Monetário internacional (FMI) | 2.814,0 | Impossível de calcular com base nos balanços do FMI |
| 3 | Itália | 2.451, 8 | 62,1% |
| 4 | França | 2.436, 4 | 57,2% |
| 5 | Rússia | 2.298,5 | 21,0% |
| 6 | China | 1.948,3 | 3,2% |
| 7 | Suiça | 1.040,0 | 5,3% |
| 8 | Japão | 846,0 | 3,4% |
| 9 | India | 744,8 | 6,5% |
| 10 | Holanda | 612,5 | 54,8% |
| — | Banco Central Europeu (BCE) | 504,8 | 33,5% |
| 11 | Taiwan | 423,6 | 4,2% |
| 12 | Turquia | 393, 4 [a] | 20,9% |
| 13 | Cazaquistão | 392,7 | 61,3% |
| 14 | Uzbequistão | 383, 5 | 62, 2% |
| 15 | Portugal | 382, 6 | 64,7% |
| 16 | Arábia Saudita | 323,1 | 3,9% |
| 17 | Reino Unido | 310,3 | 9,0% |
| 18 | Líbano | 286,8 | 42,9% |
| 19 | Espanha | 281, 6 | 17,2% |
| 20 | Áustria | 280.0 | 46,9% |
[a] Este total exclui o ouro detido por outros bancos detido no banco central ao abrigo do Reserve Option Mechanism (ROM), que estava avaliado em 364 toneladas até ao final de Março de 2020. Fonte: World Gold Council, com base nas International Financial Statistics de Novembro de 2021 do FMI e noutras fontes quando necessário.
Mas é também claro que o ouro em espécie não só é dispensável, como seria até inconveniente, como meio de circulação, podendo as outras funções do dinheiro serem desempenhadas pelo papel-moeda. Mesmo a nível mundial, o ouro pode ser substituído pelo dinheiro de crédito (papel-moeda de um determinado país ou direitos especiais de saque do FMI, calculado com base num cabaz de cinco moedas). Fica claro, por conseguinte, que as funções básicas do dinheiro, no modo capitalista de produção, são as de equivalente geral e de meio de circulação, que se constituem mutuamente, das quais todas as demais dependem — medida do valor de troca das mercadorias, reserva de valor, crédito e dinheiro mundial.
Em suma, nenhum dos três elementos fundamentais da indústria no modo capitalista de produção — força de trabalho, terra, dinheiro — é produzido para venda no mercado. A sua descrição como mercadorias é, portanto, inteiramente analógica, no caso da força de trabalho e da terra, e parcialmente analógica, no caso das funções derivativas e secundárias do dinheiro. A sua semelhança com as mercadorias propriamente ditas é, ao mesmo tempo, válida (no modo capitalista de produção) e inteiramente ilusiva (de um ponto de vista sociológico). Por essa razão, esses elementos merecem bem o qualificativo de mercadorias fictícias que lhes foi dado45. Daí se segue que o mercado autorregulado da força de trabalho, da terra e do dinheiro é uma ficção.
É esta ficção, contudo, que é apresentada como uma verdade insofismável nos manuais de “ciência económica” mais recomendados nas faculdades de economia. E é esta mesma ficção que é glosada de mil e uma maneiras pela grande maioria dos economistas comentadores, jornalistas económicos e políticos que diariamente se exprimem nos meios de comunicação social para nos informarem e esclarecerem, salvo seja, sobre assuntos económicos.
Mordor e o horizonte da «economia de mercado»
Devemos reconhecer, no entanto, que uns e outros não procedem de ânimo leve. É que há ficções muito úteis para perpetuar uma ordem social que, sem elas, seria imediatamente considerada absurda e prepotente pela grande maioria das pessoas e esta é, sem dúvida, uma dessas ficções. O seu poder encantatório (i.e. efectivo e ilusivo) assenta na constatação de que a força de trabalho, a terra e o dinheiro são, de facto, vendidos e comprados como se fossem mercadorias. A sua procura e a sua oferta traduzem-se em grandezas reais, e quaisquer medidas avulsas ou políticas públicas que inibam a formação destes “mercados” poriam inevitavelmente em perigo a regulação e a própria existência do mecanismo de “economia de mercado” a que chamamos capitalismo.
A ficção da mercadorização da força de trabalho, da terra e do dinheiro fornece, portanto, um princípio organizador fundamental no que se refere ao conjunto da sociedade, o qual afecta a quase totalidade das suas instituições dos modos mais variados46. É também esta ficção que sustenta a crença ou o postulado de que (i) uma economia de mercado é uma economia que dispõe de um mercado autorregulado e, por conseguinte, uma economia que não depende da intervenção do poder político (salvo no que concerne aos tribunais, concedem os seus apologistas), nem sequer do aparelho de Estado (salvo na sua qualidade de força policial, concedem os seus apologistas), para poder funcionar, e a crença ou o postulado concomitante de que (ii) uma economia de mercado implica e tem como horizonte natural uma harmoniosa “sociedade de mercado.”
Pois bem, é impossível validar estes dois postulados reportando-os à força do trabalho, à terra e ao dinheiro. Os argumentos que refutam esses postulados decorrem directamente do facto de que esses factores da indústria, especialmente os dois primeiros, são, como vimos, mercadorias inteiramente fictícias.
No que refere à força de trabalho, isso significa, desde logo, que ela não pode ser manejada, aplicada ou utilizada de qualquer maneira, nem deixada por utilizar, sem que isso afecte também, profundamente, a pessoa que é a portadora dessa mercadoria fictícia, melhor dizendo, que faz corpo com ela. Por exemplo, é possível, numa economia de mercado, comprar um automóvel muito velho e usado por tuta-e-meia ou vendê-lo por tuta-e-meia para a sucata para ser destruído e reciclado. Mas não podemos permitir que a força de trabalho de um trabalhador seja comprada por tuta-e-meia com o pretexto, por exemplo, de que já está muito velho e debilitado (porque nenhum trabalhador, velho ou novo, consegue ter uma vida decente ganhando uma tuta-e-meia), nem podemos permitir que ele morra de fome para ser reciclado pelos vermes da terra, se se der o caso, como tantas vezes sucede, de não conseguir vender a sua força de trabalho nem sequer por tuta-e-meia (porque isso equivaleria a despojá-lo totalmente da sua humanidade).
Do mesmo modo, a “terra” não pode ser utilizada de qualquer maneira sem que isso afecte, profundamente, o meio-ambiente de que depende toda a biosfera, à qual pertencemos e na qual somos apenas uma pequena (ainda que relativamente poderosa) parte.
Por exemplo, é possível, numa “economia de mercado”, comprar um terreno para construir uma fábrica de celulose e pasta de papel, ou comprar uma herdade para a criação industrial de suínos. Mas não podemos fechar os olhos ao facto de que a indústria de celulose e pasta de papel, assim como certos tipos de suinocultura, são grandes produtores de poluição, com elevados riscos de contaminação dos lençóis freáticos, da água à superfície e do ar, quando os efluentes da pasta de celulose e os efluentes suinícolas são lançados em rios, lagos e no solo sem serem prévia e devidamente tratados. Nem podemos permitir que a poluição que provocam possa prosseguir impune, devido às doenças que nos podem causar (verminoses, alergias, hepatite, etc.), ao desconforto que nos podem trazer (proliferação de insectos e mau cheiro) e a outros impactos negativos no meio ambiente (morte de peixes e outros animais, toxicidade em plantas e eutrofização dos cursos de água), constituindo, dessa forma, um risco à sustentabilidade das próprias indústrias que provocam esses efeitos.
Não vale a pena multiplicar os exemplos. Todos podemos imaginar o que seria uma “sociedade de mercado.”
Nada teria de pacífico, próspero e harmonioso. Bem pelo contrário. Seria uma sociedade que levaria até à suas últimas consequências, teóricas e práticas, a ficção do Grande Mercado Único autorregulado, destruindo todos os freios e contrapesos legais e institucionais que impedem actualmente que o seu mecanismo destrutivo produza a gama completa dos seus efeitos nocivos na sua máxima intensidade. Seria uma sociedade onde a força de trabalho (ou seja, os trabalhadores e, por conseguinte, a maioria dos seres humanos) e a terra (ou seja, a maior parte das condições ambientais naturais de que depende a nossa existência biológica) estariam subordinadas às leis da oferta e da procura da mesma forma que as cerejas e os telemóveis. Seria uma sociedade onde as paisagens seriam devastadas pela destruição metódica e em grande escala com o objectivo do lucro; onde o ar, os lagos, os cursos de água e os lençóis freáticos seriam contaminados pela poluição; e onde a capacidade de produção de alimentos e matérias-primas de origem biótica sucumbiria à degradação irreversível da biosfera (v. fotos 8, 10, 16, 17). Seria uma sociedade onde os seres humanos morreriam aos milhões devido à desagregação social extrema causada por guerras incessantes, pelo crime organizado, por epidemias e pela fome.



Numa palavra, seria uma sociedade ainda mais tenebrosa do que Mordor no universo ficcional da Terra Média criado por J.R.R. Tolkien.
Os freios e contrapesos à «sociedade de mercado»
A verdade é que seria essa a sociedade que teríamos hoje se não tivessem ocorrido contramovimentos defensivos que refrearam a acção do mecanismo destrutivo do mercado autorregulado. Eis alguns exemplos:
— luta pela constituição de sindicatos, cooperativas, associações mutualistas e partidos políticos de trabalhadores assalariados; luta pela fixação de uma idade mínima para o trabalho de crianças na indústria (incluindo a indústria de produtos agrícolas como, por exemplo, a plantação e colheita de algodão ou de tabaco ou de cana-de-açúcar); luta pela limitação do número de horas (por dia e por semana) do trabalho industrial de crianças; luta pela proibição total do trabalho industrial de crianças; luta por um dia de descanso semanal obrigatório para os trabalhadores assalariados; luta pela limitação do número de horas de trabalho diário e semanal dos trabalhadores assalariados; luta pela fixação de intervalos mínimos de descanso para os trabalhadores assalariados durante a jornada diária de trabalho; luta por um tempo mínimo de horas de repouso para os trabalhadores assalariados entre jornadas de trabalho consecutivas; luta pelo direito a um período anual de férias sem perda de salário; luta pelo direito a um subsídio de sobrevivência para os trabalhadores assalariados em caso de desemprego; luta pelo direito a uma pensão de aposentação; luta pela igualdade de salários entre homens e mulheres; luta por um salário mínimo; luta pelo direito a uma licença parental para as trabalhadoras grávidas durante algum tempo antes e depois do parto; luta pelo direito de voto para as mulheres; luta pelo sufrágio universal aos 21 anos; luta por legislação de higiene e segurança no trabalho por conta de outrem; luta por legislação de protecção ambiental, etc.
A lista de todas as lutas sindicais e políticas que foi preciso travar (e que continua a ser preciso travar) para limitar e mitigar os efeitos nefastos do mercado autorregulado é muito mais extensa do que a desta amostra, mas este não é o lugar apropriado para fazer essa lista. O que importa salientar para os nossos propósitos actuais é que os direitos, as liberdades e as garantias legais que foi possível alcançar através dessas lutas (i) exigiram tremendos esforços que cobrem um arco temporal de dois séculos (o que dá bem ideia da sua extrema dureza e dificuldade), (ii) estão ainda muito longe de serem universais e (iii) estão sujeitos a numerosas derrogações mesmo nos países industrialmente mais desenvolvidos onde vigoram.
A luta contra o trabalho infantil na indústria e actividades afins e pela fixação legal de uma idade mínima de admissão no emprego assalariado na indústria, na agricultura, na pesca, no comércio e outros serviços, por um lado, e, por outro, a luta para impor limites máximos à duração diária e semanal do trabalho assalariado, são talvez os melhores exemplos desses factos.
Na Inglaterra, só em 1802 (1ª lei de Peel) é que a jornada de trabalho dos aprendizes paroquianos (crianças que eram postas a trabalhar nos moinhos de fiação de algodão) foi limitada a doze horas diárias, das 6 às 21 horas, excluindo-se os intervalos para refeição, apesar da Inglaterra ser, à época, o país mais industrializado do mundo. Em 1819, por iniciativa de Robert Owen, foi proibido por lei (2ª lei de Peel) o emprego de trabalhadores assalariados menores de 9 anos, mas o horário de trabalho dos menores de 16 anos nas fiações de algodão continuou a ser de doze horas diárias. Uma lei de 1833 (Lei de Althorp) (i) reitera a proibição de trabalho infantil de crianças menores de 9 anos em toda a indústria têxtil (excepto na indústria da seda), (ii) proíbe o trabalho nocturno às crianças menores de 18 anos; (iii) limita a 12h (69 h por semana) o trabalho das crianças dos 14 aos 18 anos, e a 8 h (48h por semana) o trabalho das crianças dos 9 aos 13 anos , com 1 hora de intervalo para o almoço. Mas não nos esqueçamos que os salários das crianças eram também mais baixos: de 10 a 20% inferiores em média aos dos adultos. No fim do século XIX cerca de 20 % da força de trabalho na Inglaterra e no País de Gales eram crianças. Em 1847, a jornada de um trabalhador assalariado é fixada em dez horas.

Em França, que era talvez, à época, o segundo país mais industrializado do mundo, o trabalho nas minas dos menores de 9 anos só foi proibido em 1813. Em 1814, surgiu a proibição legal do trabalho aos domingos, mas esta lei permaneceu letra morta por falta de sanções penais à sua transgressão. Em 1841, foi proibido por lei o trabalho das crianças menores 8 anos e o trabalho nocturno (entre as 21 e as 5 horas) para os menores de 13 anos. A mesma lei limitava a duração diária do trabalho a 12 horas para os menores de 16 anos e de 8 horas aos menores de 12 anos. Mas estas disposições só se aplicavam às fábricas com mais de 20 trabalhadores… Em 1851, uma nova lei limita a duração do trabalho diário a 10 horas para os menores de 14 anos e a 12 horas para os menores entre os 14 e os 16 anos. Em 1874, uma lei fixa em 12 anos a idade mínima para uma criança poder ser empregada como trabalhadora assalariada, proíbe o trabalho nocturno e torna obrigatório o repouso ao domingo dos trabalhadores menores de 16 anos. Será preciso esperar por 1892 para que uma lei proibisse o trabalho assalariado aos menores de 13 anos (que ficam sujeitos à escolaridade obrigatória dos 6 aos 13 anos) e limitasse a duração do trabalho diário em 10 horas para os menores de 16 anos e em 11 horas para os menores de 18 anos e para as mulheres. Em 1900, uma lei limita a duração do trabalho diário a 10 horas e meia para as mulheres e para os menores de 18 anos. Em 1905 a duração o trabalho é limitada a 10 horas para todos. Foram necessários mais 57 anos do que em Inglaterra para se alcançar este resultado.

A Organização Internacional de Trabalho (OIT) foi fundada em 1919. Logo nesse ano, a OIT adoptou a convenção nº 5 que fixava em 14 anos a idade mínima de admissão de crianças proletárias em trabalhos industriais. Na prática, isso equivalia a afirmar que se deixava de ser criança a partir dos 13 anos. Ao mesmo tempo, a convenção abria a porta a derrogações por alguns dos países seus signatários. Era caso do Japão e da Índia, onde, de acordo com o que a convenção afirma explicitamente, as crianças menores de 12 anos poderiam continuar a ser empregadas nas “empresas industriais”, incluindo as minas, as pedreiras e o trabalho portuário.
Foram precisos mais 54 anos para que a OIT aprovasse, em 1973, a convenção nº138 que estipulava a idade de 15 anos como idade mínima de admissão ao emprego de proletários. Mais uma vez, a convenção deixava a porta aberta a um amplo campo de derrogações pelos países signatários, desta vez aqueles «cuja economia e instituições escolares não estiverem bastante desenvolvidas» (artigo 4º). Estes poderiam limitar o seu campo de aplicação a certos sectores de actividade e baixar para 14 anos a idade mínima aplicável aos demais sectores.
Foram precisos mais 26 anos para que a OIT aprovasse, finalmente, em 1999, a convenção nº182, em cujo artigo 2º se lê: «Para os efeitos da presente Convenção, o termo “criança” aplica-se a todas as pessoas com menos de 18 anos». Isto significa que, em Portugal, as crianças de 16 anos podem trabalhar, pois é esta actualmente, em 2018, a idade mínima legal em vigor para esse efeito.
A convenção estipula a proibição das «piores formas de trabalho das crianças», de que é feita uma listagem nos seguintes termos:
«a) Todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a servidão, bem como o trabalho forçado ou obrigatório, incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório das crianças com vista à sua utilização em conflitos armados;
b) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espectáculos pornográficos;
c) A utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para actividades ilícitas, nomeadamente para a produção e o tráfico de estupefacientes tal como são definidos pelas convenções internacionais pertinentes;
d) Os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou moralidade da criança».
A recomendação nº 190 da OIT, aprovada também em 1999, faz um útil esclarecimento sobre a alínea d) desta convenção.
«3 — Ao determinar os tipos de trabalho visados na alínea d) do artigo 3 da Convenção e a sua localização, será, nomeadamente, necessário ter em consideração:
a) Os trabalhos que expõem as crianças a maus tratos físicos, psicológicos ou sexuais;
b) Os trabalhos efectuados no subsolo, debaixo de água, em alturas perigosas ou em espaços confinados;
c) Os trabalhos efectuados com máquinas, material ou ferramentas perigosas, ou que implicam a manipulação ou o transporte de cargas pesadas;
d) Os trabalhos que se efectuam num ambiente insalubre, que possa por exemplo expor as crianças a substâncias, agentes ou processos perigosos, ou a condições de temperatura, de ruído ou de vibrações prejudiciais para a sua saúde;
e) Os trabalhos que se efectuam em condições particularmente difíceis, por exemplo durante muitas horas ou de noite, ou para a execução dos quais a criança fica injustificadamente retida nas instalações do empregador».
Isto significa que a convenção nº 182 considera que o trabalho das crianças é admissível fora destas situações. Mais ainda, significa que o trabalho das crianças é admissível, dentro de certas limitações, mesmo nas situações descritas nestas alíneas e na alínea d) da convenção.

Com efeito, na mesma recomendação pode ler-se:
«4 — No que respeita aos tipos de trabalhos visados na alínea d) do artigo 3º da Convenção, bem como no precedente parágrafo 3, a legislação nacional ou autoridade competente pode, após consulta das organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, autorizar o emprego ou o trabalho a partir dos 16 anos de idade [o realce em letras gordas foi acrescentado ao original, N.E.] desde que a saúde, a segurança e a moralidade dessas crianças sejam totalmente protegidas e que as mesmas tenham recebido um ensino específico ou uma formação profissional adaptada ao sector de actividade no qual serão ocupadas».
Moral da história: foram precisos 180 anos de lutas constantes para conseguir que a “economia de mercado” renunciasse, pelo menos em palavras, a explorar o trabalho de crianças (pessoas com menos de 18 anos) nas fábricas, minas, pedreiras, estaleiros, navios, portos, quintas, herdades, etc., sob a alçada do seu mecanismo impessoal.
Mas, mesmo assim, isso só aconteceu a conta-gotas, com uma disputa permanente e taco-taco sobre o significado da palavra “criança”: um menor de 6 anos… um menor de 9 anos… um menor de 10 anos…um menor de 12 anos…um menor de 13 anos…um menor de 14 anos…. um menor de 16 anos…um menor de 17 anos…um menor de 18 anos.
Acresce que essa luta ainda não está ganha, mesmo hoje em dia, em 2018. Em muitos países por esse mundo fora, a “economia de mercado” continua a roubar a muitas crianças, como Jewel (v. foto 14), a sua infância — o direito de brincarem, de irem à escola e de terem uma vida familiar tranquila.

Em 2016, havia, em números redondos, 218 milhões de crianças na faixa etária dos 5 aos 17 anos a trabalhar. 123 milhões eram meninos e 94 milhões eram meninas. 75 milhões eram crianças sujeitas a condições de trabalho perigoso, condições «susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou moralidade da criança»47.
O balanço que pode ser feito da luta pela limitação da duração diária e semanal do trabalho é semelhante. 58 anos depois dos trabalhadores ingleses terem conseguido limitar a sua jornada diária de trabalho a 10 horas, a primeira convenção da OIT sobre o assunto, em 1919, estabeleceu que os países signatários deveriam limitar a duração do trabalho a 8 horas diárias (uma reivindicação do Congresso de Genebra, em 1866, da Associação Internacional dos Trabalhadores) e 48 horas semanais. Porém, 90 anos depois, em 2009, a OIT estimava que a situação em 54 países do mundo era a seguinte: um em cada cinco trabalhadores (ou seja, 22%) trabalhava mais de 48 horas por semana48.
No capitalismo, quem é dono de quê, e como?
Na descrição que os economistas mercadistas fazem do mercado, este é, antes de mais, uma rede de relações e um lugar de encontro entre “pessoas” que vendem ou alugam livremente aquilo que possuem. Estas “pessoas”, que os economistas mercadistas designam genericamente por “agentes económicos individuais”, não são exclusivamente vendedores. Também compram bens para consumir que elas próprias não possuem ou que não possuem em quantidade suficiente para satisfazer as suas necessidades e desejos. Isso faz delas consumidores. Nada impede que os consumidores comprem, entre aquilo que estiver à venda, tudo aquilo que desejarem. A única limitação que encontram como consumidores é o rendimento (maior ou menor) que possuem para consumir, a sua “dotação inicial” como é designado pelos economistas mercadistas.
Assim sendo, a única coisa que diferencia os “agentes económicos individuais” enquanto consumidores é uma diferença quantitativa: o montante (variável) da sua dotação inicial.
Os agentes económicos individuais relacionam-se também uns com os outros na sua qualidade de vendedores. A única coisa que os diferencia é o tipo de bem que vendem ou alugam. Uns vendem/alugam a sua força de trabalho. Outros vendem/alugam terra. Outros vendem/alugam dinheiro. Outros, finalmente, vendem/alugam mercadorias de várias espécies. Essa é, pois, uma diferença qualitativa entre os vendedores.
No mercado assim descrito, parece reinar uma rigorosa igualdade de estatutos entre os “agentes económicos individuais”: todos são proprietários e todos são ora vendedores, ora compradores/consumidores. As diferenças quantitativas entre a dotação inicial de cada um, não alteram o facto de todos terem o estatuto de compradores/consumidores. Do mesmo modo, as diferenças qualitativas entre aquilo que cada um vende, não alteram o facto de todos terem o estatuto de vendedores. No mercado assim descrito, parece reinar também uma rigorosa liberdade de decisão entre os “agentes económicos individuais”: todos são iguais no que toca à liberdade de comprar/consumir e à liberdade de vender, no sentido em que cada um decide livremente quando e como deve intervir no mercado ora na qualidade de vendedor, ora na qualidade de comprador/consumidor.
Esta descrição dos “agentes económicos individuais” escamoteia quatro factos centrais:
1º Há “agentes económicos individuais” que são proprietários dos meios sociais de produção de bens e serviços, e há “agentes económicos individuais” que não são proprietários de quaisquer meios sociais de produção. Chamemos-lhes capitalistas e trabalhadores por conta de outrem, respectivamente.
2º Ao controlarem os meios sociais de produção de bens e serviços, os capitalistas também controlam, amiúde em regime de oligopólio ou de monopólio, os produtos que os trabalhadores ao seu serviço produzem para eles — incluindo muitos do produtos de que esses trabalhadores precisam para viver — e a única maneira legal que os trabalhadores têm de lhes aceder é comprando-os com dinheiro que, todavia, na sua totalidade ou na sua grande parte, só conseguem obter trabalhando, em troca de um salário, para os detentores dos meios colectivos de produção.
3º Os trabalhadores por conta de outrem, aqueles que vendem a sua força de trabalho aos capitalistas em troca de um salário, são obrigados a fazê-lo — como se depreende do ponto anterior — sob pena de morrerem de fome (salvo se enveredarem pelo roubo ou pela extorsão ou pela mendicidade). Por outras palavras (as palavras da economia política depois da publicação, em 1932, do livro The Economics of Imperfect Competition, de Joan Robinson), as firmas capitalistas, enquanto compradoras de força de trabalho — melhor dizendo, de tempo de trabalho, como veremos já a seguir — encontram-se numa situação oligopsonista, que tenderá tanto mais para monopsonista quanto mais os capitalistas se coordenarem nos confrontos com a classe trabalhadora assalariada. 49
4º Ao venderem a sua força de trabalho, esses trabalhadores não se desfazem de um bem que possuíam, como aconteceria se se tratasse, por exemplo, de um telemóvel, de um automóvel ou de uma casa. Sabemos qual é a razão: a força de trabalho é uma mercadoria fictícia. Uma prova disso é que a força de trabalho continua a fazer corpo com o trabalhador que decide vendê-la. O que o trabalhador faz ao vendê-la é, de facto, alugá-la por determinado tempo — ou seja, consentir em utilizá-la para realizar um trabalho cujo propósito, local, quadro organizativo e resultado (e, muitas vezes também, o início, o fim e o ritmo de execução) não são, regra geral, decididos por si, mas pelo comprador oligopsonista ou monopsonista.
A descrição escamoteia também outro facto central, relativo, desta feita, ao comprador da força de trabalho. No modo capitalista de produção e de distribuição (modo de produção para abreviar), o comprador da força de trabalho não é, na maior parte dos casos, uma pessoa física, de carne e osso, como o trabalhador50 mas uma entidade impessoal, uma “pessoa jurídica” muito especial, que dá pelo nome, em Português, de “sociedade comercial” (em Portugal) e de “sociedade empresária” (no Brasil).
Sociedade empresária é uma expressão redundante e enganadora, porque (i) abrange e engloba o conceito de empresa, que é sempre uma (micro)sociedade, e (ii) porque uma empresa pode existir sem perseguir os fins lucrativos que são distintivos do comércio. Retenhamos, por conseguinte, sociedade comercial (e mais simplesmente firma, que é o seu nome distintivo).
Uma sociedade comercial ou firma é uma “pessoa jurídica”51 que possui e explora comercialmente uma empresa. A “sociedade comercial” é a forma canónica de organização do trabalho no modo capitalista de produção, o modo de produção actualmente dominante à escala planetária. É um facto fácil de constatar. É nas empresas que trabalham os trabalhadores assalariados. É nas empresas que são produzidos os bens ou prestados os serviços que são vendidos no mercado como mercadorias. Mas são as “sociedades comerciais” ou “firmas” que organizam autocraticamente a produção, que controlam o tempo e os processos de trabalho dos trabalhadores da empresa, que se apropriam das mercadorias produzidas pelas empresas e que arrecadam o lucro resultante da sua venda. Os ideólogos do capitalismo chamam a este modo de actuação “livre iniciativa” (Ingl. free enterprise) com a maior impudência.
São muito peculiares estas “sociedades comerciais”, na verdade! Desde logo porque o termo “sociedade” que figura na sua denominação não tem o sentido habitual que evoca um grande número de pessoas unidas por um vínculo de entreajuda, formando, portanto, uma comunidade. Na verdade, as “sociedades comerciais” só são sociedades no que diz respeito às empresas que possuem, não no que diz respeito à natureza dos seus possuidores. Acresce que as “sociedades comerciais”, seja qual for a natureza das empresas que possuem (fábricas, minas, explorações agrícolas, pecuárias e florestais, empresas de transporte ferroviário e rodoviário, companhias de navegação marítima, companhias de aviação, empresas de telecomunicações, empresas de produção e distribuição de energia, empresas de produção cinematográfica, editoras, jornais de grande tiragem, canais de televisão, supermercados, bancos, companhias de seguros, etc.), são, na sua esmagadora maioria, propriedade privada de uma pequeníssima minoria de indivíduos, os chamados “sócios” — por exemplo, os “sócios” quotistas maioritários (nas sociedades comerciais por quotas) e os “sócios” accionistas maioritários (nas sociedades comerciais anónimas, de capital fechado ou de capital aberto).
Os “sócios” de uma “sociedade comercial” constituem (por eleição, nomeação ou cooptação), um número variável de órgãos, chamados “corpos sociais”. Nas grandes “sociedades comerciais” por quotas ou por acções, os corpos sociais incluem, entre outros, a assembleia geral de “sócios”, o conselho de administração (presidente e vogais) e o conselho fiscal. Uma vez constituída uma “sociedade comercial”, os “sócios” só intervêm nela anualmente, aquando das assembleias gerais de “sócios” (se tiverem direito de voto, o que nem sempre acontece). O seu poder é enorme, se forem maioritários, pequeno se forem minoritários. Mas em ambos os casos só pode ser exercido nessas assembleias gerais e circunscreve-se a dois pontos: (i) aprovar ou reprovar o relatório de actividades que lhes é apresentado pelo conselho de administração, e (ii) demitir ou reconduzir os membros dos conselhos de administração e demais membros dos “corpos sociais”.
Os membros do conselho de administração podem ser escolhidos entre os próprios “sócios” ou podem ser outras pessoas. Os administradores contratam amiúde especialistas (directores executivos, economistas, técnicos oficiais de contas, revisores oficiais de contas, advogados fiscalistas, consultores, etc.) capazes de os auxiliar a gerir a empresa possuída pela “sociedade comercial”, ou capazes de os substituir totalmente nessa actividade. Os administradores e estes especialistas em gerir empresas, que podemos apelidar, uns e outros, colectivamente, de gestores empresariais (ou gestores, para abreviar), apropriam-se de uma parte substancial dos lucros das empresas, disfarçada sob a forma de remuneração. Os gestores são os únicos empregados da “sociedade comercial”. E ainda que alguns deles não sejam simultaneamente seus “sócios”, fazem ambos parte dos seus “corpos sociais”. Os trabalhadores assalariados (engenheiros, operários, empregados de escritório, etc.) que os gestores contratam para produzir os bens ou serviços que a empresa vende, trabalham para a “sociedade comercial”, mas não fazem parte dos seus “corpos sociais”. Juridicamente falando, os trabalhadores assalariados são um corpo social que está como que apenso à “sociedade comercial” (que não pode viver sem ele), mas que lhe é alheio.
Este estranho complexo de relações jurídicas que dá pelo nome de “sociedade comercial” é encarado como sendo a coisa mais natural (e mais racional) do mundo pela grande maioria dos economistas. Mas basta examinar as suas duas manifestações assimétricas mais salientes para nos darmos imediatamente conta da sua artificialidade e irracionalidade. Primeira assimetria: o pequeno número de indivíduos que são “sócios” da maioria das “sociedades comerciais” comparativamente ao grande número daqueles que trabalham nas empresas de que elas são proprietárias como trabalhadores assalariados e que nelas produzem os bens ou serviços que as sustentam no mercado. Segunda assimetria: os lucros que os “sócios” das “sociedades comerciais” auferem, mesmo quando são totalmente improdutivos, comparativamente aos salários que auferem os trabalhadores que para elas trabalham.
Pode ilustrar-se esta dupla assimetria com o exemplo da Energia de Portugal (EDP), anteriormente denominada Electricidade de Portugal, a “sociedade comercial” dona da maior empresa instalada em Portugal, que conta com 10 milhões de clientes em Portugal e noutros países. Os “sócios” accionistas maioritários da EDP são 10 “sociedades comerciais”: China Three Gorges Corporation (China), Capital Group Companies (EUA), Oppidum (Espanha), José de Mello Energia, S.A. (Portugal), Senfora (Luxemburgo), Millenium BCP (Portugal), Qatar Holding (Qatar), Sonatrach (Argélia), Norges Bank LLC (Noruega), Black Rock (EUA). Em 2017, a EDP tinha 11.657 trabalhadores, cujo trabalho permitiu que os administradores dessem 1.113 milhões de euros de lucros aos “sócios” accionistas desta “sociedade comercial”. Já a massa salarial dos trabalhadores ficou-se por 471 milhões de euros.
Quem beneficia?
Mesmo quando os “sócios” detentores do capital de uma “sociedade comercial” trabalham nelas numa posição subordinada de gestor (por exemplo, quando o administrador e “sócio” maioritário Pai reconduz o gestor Filho), e mesmo quando aliam à sua qualidade de “sócio” accionista maioritário, ou de “sócio” quotista maioritário, a de presidente do conselho de administração e/ou de director executivo (uma situação relativamente rara, condição muito favorável, mas não suficiente, para o surgimento, ainda mais raro, dos “empreendedores-inovadores”, de quem J. A. Schumpeter fez o louvor52, quando ainda estava na sua fase apologética [1911-1938]), o seu trabalho só contribui para o resultado global da respectiva empresa numa pequena ou ínfima proporção. Mas são sempre eles os principais beneficiários da riqueza que nelas se produz.
Um exemplo pode ajudar a fixar as ideias. Aos 31 anos, em 1987, Bill Gates, co-fundador, “sócio” accionista maioritário, presidente do conselho de administração (chairman) e director executivo (CEO) da “sociedade comercial” Microsoft, tornou-se o multimilionário mais jovem do mundo, com uma fortuna avaliada em 12.900 milhões de dólares americanos, pouco depois da abertura do capital e da entrada da Microsoft na bolsa de valores. Em 1995, com 39 anos, era o homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 93.300 milhões de dólares. E nessa posição se manteve durante 18 dos últimos 23 anos, até ser destronado por Jeffrey Bezos, “sócio” accionista maioritário, presidente do conselho de administração e director executivo da Amazon, cuja fortuna foi estimada em 105.100 milhões de dólares neste ano (2018), contra os 97.400 milhões de Gates.

Todavia, não passa pela cabeça de ninguém que esteja no seu perfeito juízo afirmar que Bill Gates produziu sozinho a totalidade, ou mesmo a maior parte, dos produtos fabricados pela Microsoft, apesar dos milhares de milhões de dólares que Gates tem arrecadado com a sua venda ao longo dos anos. Aliás, Bill Gates deixou o cargo de director executivo da sua empresa em 2000 e afastou-se ainda mais dela em 2008. Fê-lo para se dedicar, cada vez mais, a actividades filantrópicas, com os rendimentos que continua a receber da Microsoft e de outras empresas onde é accionista maioritário. Daqui se pode concluir que são os mais de 131.000 trabalhadores assalariados da Microsoft no mundo inteiro (engenheiros, técnicos, operários, programadores, etc.) que são, em primeiro lugar, os verdadeiros produtores da riqueza de Bill Gates, incluindo aquela grande parte que ele decidiu canalizar para actividades filantrópicas.
Em suma, no modo capitalista de produção quem fica com a parte do leão da riqueza produzida, não são os seus produtores directos, mas os donos dos meios sociais de produção, os “sócios” accionistas maioritários (ou “sócios” quotistas maioritários) das “sociedades comerciais” — a forma jurídica canónica de propriedade e exploração das empresas neste modo de produção — e os seus gestores. São eles que a imprensa económica designa por empreendedores e investidores, termos que procuram diferenciar os chamados (outrora) “capitães de indústria” (empreendedores-gestores) dos puros rentistas/lucratistas/agiotas. Estes últimos gostam, por vezes, de se adornar com o título auto-elogioso de “Anjos dos Negócios Lucrativos” — Business Angels na língua que consideram ser a mais própria para o convívio das pessoas que querem triunfar nos negócios, enriquecer e entrar um dia, quem sabe, na lista da Forbes dos mais ricos do mundo.
E no socialismo, quem é o dono de quê, e como?
Um camião pode ser manejado por um indivíduo, mas não uma frota de camiões ao serviço de um propósito comum. Isso exige uma empresa de camionagem e a cooperação de muitos indivíduos. Do mesmo modo, um avião comercial de passageiros, um paquete, e, por maioria de razão, uma companhia de aviação, uma companhia de navegação, uma fábrica de automóveis, uma grande exploração agrícola, são meios sociais, interindividuais, de produção de bens e serviços; meios industriais de produção que exigem, para poderem funcionar, serem empregados ou mantidos de maneira social, mediante a cooperação e a ajuda mútua de muitos indivíduos. O mesmo vale dizer das condições gerais de produção (estradas, portos, aeroportos, vias férreas, centrais de energia eléctrica, etc.) e dos serviços universais de apoio e protecção ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural da população (serviços universais, para abreviar), como, por exemplo, os bombeiros, os hospitais e centros de saúde, as escolas e as universidades.
O socialismo — ou o comunismo, ou a associação dos produtores livres e iguais ou a sociedade cooperativa (os quatro termos são intermutáveis)53 — é o modo de produção em que se conjugam duas condições, uma relativa à forma de propriedade dos meios sociais de produção da riqueza, das condições gerais de produção e dos serviços colectivos, e a outra relativa à forma de os organizar e gerir com equidade e eficiência.
A primeira condição intitula-se: propriedade individual, com base na posse conjunta, associada, dos meios sociais de produção da riqueza, das condições gerais de produção e dos serviços universais — isto é, de todos aqueles meios, condições e serviços que, quer pela sua dimensão, quer pela sua complexidade, quer por ambas as razões, não podem ser operados (ou prestados) apenas por um único indivíduo ou apenas pelos esforços conjugados dos membros de uma única família. Significa que os (i) meios sociais de produção, as (ii) condições gerais de produção e os (iii) serviços universais passam a ser propriedade individual dos trabalhadores livremente associados, dos cidadãos que com eles trabalham, os seus custódios, organizados sob a forma de (i) empresas cooperativas e consórcios de empresas cooperativas e (ii-iii) de fundações multiface de utilidade pública administrativa, respectivamente.
A segunda condição intitula-se: gestão autónoma e democrática dos meios sociais de produção, das condições gerais de produção e dos serviços universais. Significa que as empresas cooperativas, os consórcios de empresas cooperativas e as fundações multiface de utilidade pública administrativa que têm a custódia legal desses meios e serviços colectivos são geridas autónoma e democraticamente pelos trabalhadores que nelas trabalham (com a participação, em pé de igualdade no caso das fundações de utilidade pública administrativa, dos seus utentes e beneficiários directos).
Assim, no socialismo, todas as empresas supra-individuais ou suprafamiliares, as condições gerais de produção e os serviços universais (saneamento básico, distribuição de água, electricidade e gás, centros de saúde, hospitais, serviços de avaliação de medicamentos e dispositivos médicos, escolas, politécnicos, universidades, correios, telecomunicações, protecção civil, etc.) serão considerados bens inalienáveis da sociedade, património comum do povo. Não poderão ser apropriados privadamente por firmas (“sociedades comerciais”) constituídas por gente que não trabalha nas empresas nem nos serviços colectivos, mas que, não obstante, as comanda e que se apropria da parte de leão do seu produto.
Do mesmo modo, no socialismo, os meios sociais de produção (por exemplo, uma empresa de produção de medicamentos ou uma empresa de produção de automóveis), tal como as condições gerais de produção (por exemplo, o porto de Lisboa ou a rede ferroviária nacional) ou os serviços universais de protecção e apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural da população (por exemplo, um hospital ou uma universidade) não poderão ser vendidos nem comprados por indivíduos ou grupos para fazerem negócios em proveito próprio, nem para serem legados por testamento aos seus descendentes. Só poderão ser cedidos, com as obrigações inerentes à sua custódia legal, a colectivos de trabalhadores organizados em empresas cooperativas, em consórcios de empresas cooperativas (por exemplo, o consórcio cooperativa da indústria farmacêutica, o consórcio cooperativo da indústria automóvel), em fundações de utilidade pública administrativa ou noutras formas de associação sem fins lucrativos, as quais, ao mesmo tempo que lhes garantem um emprego decentemente recompensado e adequado às suas competências, trabalham com vista à produção de bens e serviços que satisfaçam as necessidades básicas e as aspirações legítimas da população, sem, porém, degradar irreversivelmente o meio-ambiente natural e sem terem o lucro como critério de avaliação económica.

O princípio económico do socialismo é, por isso, diametralmente oposto ao do capitalismo que procura também produzir bens e serviços que satisfaçam necessidades e aspirações da população, mas que só o faz se, e só se, da sua produção e venda resultar um lucro apreciável para uma pequena minoria da população, os capitalistas e os gestores ao seu serviço. Se tais ou tais bens e serviços não derem lucro, os capitalistas e os seus gestores desinteressam-se da sua produção, por muito básicas e legítimas que sejam as necessidades e aspirações que eles se destinam a satisfazer. Por outro lado, se tais ou tais bens e serviços produzidos derem lucro, é certo e sabido que surgirão capitalistas dispostos a produzi-los.
Produzi-los-ão mesmo que esses bens e serviços se destinem a satisfazer necessidades espúrias (como, por exemplo, a produção de armas de guerra; a produção de estupefacientes, psicotrópicos e drogas alucinogénicas para consumo recreativo) e desejos egomaníacos de algumas camadas da população (como, por exemplo, a produção de aviões a jacto privados ou de automóveis superdesportivos de grande cilindrada e grande consumo de combustível para uso recreativo).

E produzi-los-ão mesmo que a sua produção e a sua venda acarretem danos prolongados ou irreversíveis para a população e para o meio-ambiente — como, p.ex., o aumento da toxicodependência e da criminalidade violenta resultante do consumo recreativo de estupefacientes, psicotrópicos e drogas alucinogénicas e das guerras territoriais entre quadrilhas rivais de bandidos ligadas à sua produção e venda; o aumento dos acidentes rodoviários por excesso de velocidade, o aumento da poluição do ar e do solo e da contaminação dos aquíferos decorrentes da queima e extracção de combustíveis fósseis, em particular através dos superdestrutivos e superpoluentes processos de fracturamento hidráulico do subsolo rochoso que contém o gás e o petróleo de xisto e dos processos de tratamento das areias que contêm betume. Todos esses inconvenientes são varridos para debaixo de um imenso tapete que os economistas mercadistas baptizaram eufemisticamente com o nome de “externalidades”— “externalidades negativas” neste caso.
Na sociedade socialista haverá, pois, uma restauração da propriedade individual sobre novas bases 54. Na verdade, ela passará a ser acessível a centenas de milhões de pessoas que, hoje em dia, pouco têm de seu para além da roupa que trazem no corpo. Mas a propriedade individual a que todos temos direito no socialismo não é a propriedade privada individual (que se baseia no trabalho individual do seu proprietário) dos modos de produção pré-capitalistas que o capitalismo industrial se encarregou, em grande medida, de destruir. Não é, muito menos, a propriedade privada capitalista dos meios sociais (interindividuais) de produção, das condições gerais de produção e dos serviços universais — o tipo de propriedade privada que permite a um pequeno número de indivíduos não trabalhadores viverem à custa do trabalho da grande maioria. O traço distintivo da propriedade privada capitalista não é a propriedade individual, mas a sua negação por meio da separação dos produtores directos (os trabalhadores) da posse dos meios sociais de produção, das condições gerais da produção que são propriedade dos capitalistas. A propriedade individual do modo de produção socialista ou comunista é o contrário da propriedade privada capitalista É, por conseguinte, a situação em que os trabalhadores individuais associados tomam posse dos meios sociais de produção de bens e serviços e, passam, desse modo, a controlar as condições objectivas do seu próprio trabalho.
Cumpre notar que a propriedade dos indivíduos livremente associados é, ao mesmo tempo, propriedade individual e propriedade directamente social. Por isso, podemos também qualificá-la de propriedade social individual ou propriedade individual associativa. 55.
Da mesma maneira é importante não confundir a propriedade individual associativa dos meios sociais de produção de bens de todo o género, das condições gerais de produção (produção e distribuição de energia eléctrica, gestão do tráfego portuário, etc.) e dos serviços colectivos (hospitais, infantários, escolas, universidades, politécnicos, saneamento básico, abastecimento de água canalizada, recolha de lixo, etc.) destinados a satisfazer necessidades básicas da população (saúde, educação, transportes públicos, desporto, cultura, etc.) com a propriedade individual de bens de consumo individual e familiar (alimentação, vestuário, habitação, mobiliário, meios de transporte individual ou familiar, brinquedos, livros, telemóveis, computadores pessoais, etc.). Obviamente, não é deste tipo de propriedade que falamos quando falamos de propriedade privada capitalista. A propriedade individual de bens de consumo é complementar da propriedade individual associativa dos meios de produção e dos serviços colectivos. A única coisa a assinalar neste particular será, porventura, uma que se relaciona com o direito à habitação. Numa sociedade socialista/comunista todos os cidadãos terão o direito a adquirir a propriedade individual de uma habitação condigna (apartamento ou casa) com o fruto do seu trabalho, caso ainda a não tenham. Todos terão o direito de conservar a propriedade individual dos apartamentos ou das casas onde residam e que adquiriram com o fruto do seu trabalho. Mas ninguém poderá comprar apartamentos ou casas para fazer negócio, arrendando-os ou vendendo-os por um preço superior ao da sua aquisição, porque, numa sociedade socialista, não haverá mercado de habitação, que o mesmo é dizer, a habitação deixará de ser uma mercadoria para passar a ser um bem essencial acessível a todos e um direito universalmente garantido.
Quem gere as empresas e os serviços universais?
No modo capitalista de produção (no capitalismo, para abreviar) toda a autoridade dentro das empresas (incluindo as empresas possuídas pelas sociedades comerciais que exploram lucrativamente serviços de interesse geral, como hospitais, escolas e universidades) emana, como vimos, dos proprietários privados dos seus meios sociais de produção: indivíduos que não são trabalhadores das empresas, mas sim “sócios” accionistas maioritários, ou “sócios” quotistas maioritários, das “sociedades comerciais” donas das empresas, e ainda — o que na prática vem a ser o mesmo — os gestores empresariais (economistas, fiscalistas, engenheiros de gestão industrial, etc.) que os “sócios” proprietários contratam para os substituírem na gestão das empresas e na administração das suas fortunas.
Esta camada social, que constitui o órgão gestionário da classe capitalista, faz-se pagar a peso de ouro, pelas razões já expostas (cf. secção 9. No capitalismo, quem é dono de quê, e como?). Em 2014, os rendimentos auferidos pelos directores executivos (os CEO [chief executive officers], como eles gostam de se autodenominar) das empresas portuguesas eram 51 vezes mais altos do que os rendimentos dos trabalhadores menos qualificados56Se nos reportarmos apenas às sociedades comerciais portuguesas que compõem o índice PSI-2057os resultados são igualmente esclarecedores. Em 2014, os rendimentos auferidos a título de remuneração pelos directores executivos das sociedades comerciais do PSI-20 eram, em média, 33 vezes mais altos do que a média dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores das empresas dessas sociedades comerciais. Em 2017, essa diferença a favor dos directores executivos tinha aumentado para 46 vezes mais.
Em 2017, a maior diferença registou-se na Jerónimo Martins (a dona do Pingo Doce) onde o director executivo, Pedro Soares dos Santos, recebeu 2 milhões de euros de vencimentos e prémios, 155,2 vezes mais do que os salários e prémios recebidos em média pelos trabalhadores da empresa. O director executivo que recebeu mais foi António Mexia da EDP, com 2,26 milhões de euros, um valor que é 52 vezes mais do que aquele que auferiu a média dos trabalhadores da sua empresa58. Nos EUA, o congressista Keith Ellison analisou dados de 14 milhões de trabalhadores de 225 sociedades comerciais norte-americanas que geraram receitas anuais de 6,3 biliões de dólares, e concluiu que, em média, os CEO ganhavam 339 vezes mais do que os trabalhadores59. Existem casos nos EUA em que os CEO ganham 2000 vezes mais do que pagam aos trabalhadores. É o caso, por ex., dos CEO da fabricante de peças automóveis Aptiv (2556 vezes mais) e da agência de trabalho temporário Manpower (2432 vezes mais).
No modo socialista de produção (no socialismo, para abreviar) toda a autoridade dentro das unidades de produção (podemos continuar a chamar-lhes empresas por facilidade de expressão) — sejam elas cooperativas de trabalho associado (cooperativas, para abreviar), consórcios de cooperativas ou fundações multiface de utilidade pública administrativa — emanará daqueles que nelas trabalham, sem distinção de profissão, função, idade ou sexo. Os trabalhadores escolhem, por sorteio, rotatividade e (nalguns casos) concurso público, os membros de todos os órgãos permanentes de gestão que entendam necessários para agilizar a produção e o funcionamento regular das empresas cooperativas e fundações de utilidade pública administrativa onde trabalham, com a devida atenção à higiene e segurança no trabalho. Esses órgãos, periodicamente renovados, a intervalos anuais, na sua composição para não se anquilosarem e burocratizarem, respondem e prestam contas perante as assembleias gerais dos trabalhadores que os sortearam, escalaram rotativamente e seleccionaram (após concurso público) segundo regras democraticamente aprovadas por todos.
Uma cooperativa de trabalho associado é uma associação autónoma de trabalhadores voluntariamente unidos para satisfazer as suas necessidades e aspirações económicas, sociais e culturais comuns através de uma empresa cujos meios de produção/distribuição são compartilhados por todos os seus membros (os cooperadores) e democraticamente gerida por todos eles. As empresas cooperativas baseiam-se nos princípios da criatividade, entreajuda, isonomia, solidariedade, equidade e democracia.
Por fundações multiface de utilidade pública administrativa (ou fundações multiface, para abreviar), deve entender-se, no presente contexto, empresas encarregadas de assegurar (i) as condições gerais de produção (e.g. as centrais de produção e as redes de abastecimento de electricidade; os transportes colectivos urbanos e interurbanos [autocarros, trolleys, eléctricos, metro, comboios]; os transportes aéreos; os transportes marítimos; as redes de telecomunicações: rádio, televisão, correios, telefones, internet; estradas, canais, portos, aeroportos), e (ii) a prestação de serviços de vocação universal destinados a promover o desenvolvimento cultural e proteger o bem-estar da população (e.g. o acesso aos cuidados de saúde; a garantia da qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos de uso humano, dispositivos médicos, produtos cosméticos e produtos de higiene corporal; o acesso à educação extrafamiliar do infantário ao ensino superior universitário e politécnico; o financiamento da ciência, da tecnologia e das artes; a defesa e conservação do património cultural; a dinamização do desporto; a protecção de crianças, jovens e adultos com necessidades especiais; a protecção do consumidor; a protecção do meio ambiente e o património natural; a protecção civil; o abastecimento de água potável à população; o saneamento de águas residuais urbanas; a gestão de resíduos urbanos).
O nome substantivo “fundação” justifica-se, à falta de melhor termo, para significar que estas entidades colectivas têm a custódia de um fundo patrimonial que lhes é confiado pelo colectivo dos cidadãos (por exemplo, as instalações e o equipamento de um hospital ou de uma universidade ou de um quartel de bombeiros) e que a sua actividade não tem fins lucrativos. O adjectivo “multiface” justifica-se para realçar a exigência de que a sua autogestão democrática terá de envolver todas as partes interessadas. Por exemplo, numa universidade ou num instituto politécnico, os professores, os funcionários não-docentes, os estudantes e elementos da população da sua área de influência; num hospital ou num centro de saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais e os utentes da sua área de influência; num quartel de bombeiros, além dos bombeiros elementos da população da área abrangida pelo serviço que prestam.
São os trabalhadores de cada empresa cooperativa, no seu conjunto, que debatem, aprovam, monitorizam e modificam os planos necessários à eficiência das operações de produção. Estes princípios valem também para o modo de gestão dos consórcios de cooperativas e das fundações multiface de utilidade pública administrativa que assegurem as condições gerais de produção e os serviços colectivos universais de protecção e apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural da população. A única diferença é que nestas últimas instituições se torna possível associar os seus utentes e beneficiários directos às formas de gestão democrática e autónoma postas de pé pelos trabalhadores encarregados de as fazerem funcionar. É o caso, por exemplo, das faculdades e escolas do ensino superior e dos hospitais.
Além de escolherem os membros dos órgãos permanentes de gestão dos seus locais de trabalho por sorteio, rotatividade e (em certos casos) concurso público, os trabalhadores designam também, por sorteio e rotatividade, os membros dos órgãos de coordenação e planeamento de cada ramo de actividade económica e de cada ramo dos serviços colectivos de protecção e de apoio ao bem-estar e desenvolvimento cultural das populações, culminando num órgão nacional de coordenação de todas as indústrias e de todos os serviços colectivos de vocação universal. A esse órgão (chamemos-lhe o Fórum da economia, da solidariedade social e da cultura, só para efeitos de remissão futura) caberia elaborar as grandes opções estratégicas do desenvolvimento socioeconómico, socioambiental, sociobiótico e sociocultural e sugerir (e não, note-se, decidir) as políticas públicas e os investimentos que permitissem concretizá-las, submetendo-as, em seguida, à discussão pública e à votação pelo conjunto dos cidadãos através do seu orgão soberano: a Assembleia Adsumus dos Cidadãos (ver, mais adiante, na secção 18, Democracia integral versus oligarquia liberal, e na nota 101, a elucidação do conceito de Assembleia Adsumus dos Cidadãos.)
O socialismo só é viável por meio de uma democracia integral
Em resumo, o socialismo é «o sistema republicano e beneficente da associação de produtores livres e iguais,» «um grande e harmonioso sistema de trabalho livre e cooperativo» 60.
Na prática, isso significa a abolição do trabalho assalariado, a instituição da propriedade cooperativa (ou, o que vem a ser o mesmo, a custódia legal compartilhada e a gestão autónoma e democrática) das empresas produtoras de bens e serviços, das condições gerais de produção e das instituições de protecção e apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural das populações pelos trabalhadores que nelas estão empregados (os seus custódios mais imediatos e eficazes) e, sempre que possível, pelos seus utentes directos (como, por exemplo, os pacientes residentes na área de influência de um hospital ou os estudantes de uma universidade). Significa também que as grandes decisões relativas ao desenvolvimento industrial, à protecção, ao bem-estar social e ao desenvolvimento cultural (prioridades, investimentos, calendários, etc.) sejam tomadas pelo povo (mutato nomine, pelo conjunto dos cidadãos), não por uma qualquer autoproclamada elite que se arrogue o direito de falar e agir em nome do povo.
Tudo isso só é possível mediante um regime de democracia integral, um regime de poder político autónomo em que todos os cidadãos estejam em pé de igualdade para opinar, debater, criticar e decidir sobre o que fazer, como fazer e quando fazer, quer na sua qualidade de trabalhadores-produtores de bens e serviços, quer na sua qualidade de consumidores e de utentes, quer em toda e qualquer outra qualidade cidadã atendível (de estudantes, desportistas, aposentados, etc.).
As três funções do poder político autónomo são: a função legislativa, a função jurisdicional e a função governativa (muitas vezes impropriamente designada, nos regimes oligárquicos, por “função executiva”). E estas três funções do poder político autónomo exercem-se em cinco domínios: sociopolítico, socioeconómico, socioambiental, sociobiótico e sociocultural (incluindo neste a religião, a arte, a filosofia, o direito, a ciência, a tecnologia, o desporto, etc.). Eis alguns exemplos desta quíntupla distinção, sem a qual não é possível compreender o significado de democracia integral.
Já vimos como se comportam as 32 “sociedades comerciais” petrolíferas que exploram as areias betuminosas do Canadá (Suncor Energy, CNRL, Cenovus Energy, Conoco-Philipps, ExxonMobil, Shell, PetroChina, Athabasca Oil Corporation, MEG Energy, OSUM, etc.61) e as consequências do seu total desprezo pelo meio-ambiente. Esse é um exemplo de poder socioambiental heterónomo, e, por conseguinte, ilegítimo.
As cervejeiras Carlsberg e Heineken pediram este ano (2018) um registo de patente, na UE, de propriedade intelectual sobre a cevada, o processo de fabrico da cerveja e a cerveja — um cereal, um processo de fabrico e uma bebida fermentada conhecidos há milhares de anos. Se ganharem, toda a gente (agricultores que cultivam a cevada, fabricantes de cerveja, cervejarias e consumidores de cerveja) terá de pagar-lhes uma taxa para poder produzir, vender ou consumir este produto. A luta nos tribunais vai ser dura e o seu resultado incerto porque a Repartição Europeia das Patentes já concedeu patentes a estas cervejeiras com base numa mutação aleatória do genoma da cevada utilizado por essas marcas para o fabrico da cerveja. Este é um exemplo, cada vez mais frequente, de poder sociobiótico heterónomo e, por conseguinte, ilegítimo.
Um tal Loren Miller, director-executivo da International Plant Medicine Corporation, uma “sociedade comercial” americana sediada na Califórnia, registou, em 1984, nos EUA, uma patente de propriedade intelectual para a indústria sobre a Banisteriopsis caapi (também conhecida, entre outros nomes vernáculos, por Cipó-mariri e Ayahuasca), uma planta bravia da floresta amazónica cujas propriedades medicinais são conhecidas há séculos pelos Povos Indígenas da Amazónia. Foi preciso que estes encetassem uma luta que durou quase 20 anos para que, finalmente, a patente caducasse, em 2003. A Banisteriopsis caapi contém vários inibidores da monoamina oxidase (IMAO) que entram no fabrico de fármacos utilizados em tratamentos contra a depressão, a ansiedade, o transtorno de pânico e a doença de Parkinson. Este é um exemplo, tal como o anterior, em que se misturam poder sociobiótico e poder socioeconómico heterónomo e, por conseguinte, ilegítimo.
(A) Nos Estados do Sul dos EUA, vigoraram, entre 1876 e 1965, as chamadas leis de Jim Crow, que institucionalizavam a segregação social dos americanos de origem africana e asiática, assim como dos próprios Povos Indígenas, relativamente aos americanos de origem europeia. (B) Em Setembro de 1935, Hitler fazia aprovar, na Alemanha, as chamadas leis de Nuremberga: a “Lei para a Protecção do Sangue Alemão e da Honra Alemã” e a “Lei da Cidadania do Reich”. A primeira lei proibia os casamentos e as relações sexuais fora do casamento entre judeus e alemães, bem como o emprego de mulheres alemães com menos de 45 anos de idade em casas de judeus. A segunda lei estabelecia que só as pessoas com sangue alemão, ou sangue relacionado, eram elegíveis para serem cidadãos do Reich, as restantes eram classificadas como súbditos do Estado, sem qualquer tipo de direitos de cidadania. Em 14 de Novembro de 1935 foi publicado um decreto suplementar com as definições sobre quem era considerado judeu e a Lei da Cidadania do Reich entrou em vigor nesse mesmo dia. Estas leis foram expandidas por um decreto suplementar de 26 de Novembro de 1935, de modo a incluírem os ciganos e os “negros”. Este decreto definia os ciganos como “inimigos do Estado [Reich] de base racial”, a mesma categoria dos judeus. (C) Na República da África do Sul, vigorou, entre 1948 e 1994, um regime legal denominado apartheid (= “separação” em língua africânder) que institucionalizava a segregação social dos sul-africanos classificados em grupos raciais: “brancos” (que detinham a supremacia) versus “negros”, “indianos” e “de cor” (que estavam subordinados aos “brancos”).
(A), (B) e (C) são três exemplos bem conhecidos de poder sociobiótico heterónomo e, por conseguinte, ilegítimo.
Em 1 de Fevereiro de 1979, foi proclamada a República Islâmica do Irão. A Constituição desta república declara que a religião oficial do Irão é o Islão xiita. Foi adoptada a Xaria, Lei Islâmica, baseada no Corão e nos hádices. Todas as leis e normas de conduta devem ser congruentes com a interpretação oficial da Xaria. Nessa conformidade, por exemplo, a idade de casamento para as mulheres foi reduzida para os 9 anos de idade. O governo restringiu severamente a liberdade de religião. A Constituição estabelece que “dentro dos limites da lei”, os zoroastristas, os judeus e os cristãos são as únicas minorias religiosas reconhecidas que têm liberdade garantida para praticar sua religião. Contudo, membros de todos os grupos religiosos minoritários relatam detenções, assédio, intimidação e discriminação com base em suas crenças religiosas, em particular os Bahai. As minorias religiosas estão a emigrar a um ritmo crescente. No Irão, a pena de morte (mais de 567 execuções em 2016, entre os quais 5 menores) não se limita a crimes de sangue. Adultério, tr̟áfico de drogas, sodomia, homossexualismo, apostasia, violação, “insultos ao profeta” e a acusação vaga de “semear a corrupção na Terra” são puníveis com a morte. Os casos de pena capital são frequentemente baseados em provas insuficientes. A Amnistia Internacional relatou setenta e seis casos de lapidação entre 1980 e 1989 no Irão, e o Comité Internacional contra a Pena de Morte (ICAE) relatou que outras setenta e quatro vítimas foram apedrejadas até à morte no Irão entre 1990 e 2009. Estes são exemplos de poder sociocultural (neste caso e mais concretamente, poder religioso) heterónomo e , por conseguinte, ilegítimo.
A constituição e o funcionamento dos órgãos dirigentes da União Europeia (UE) — Comissão, Banco Central Europeu, Tribunal de Justiça e Conselho — estão, em todos eles, fora do alcance dos eleitores dos países que fazem parte da UE62. A UE rege-se por um federalismo directorial antidemocrático. Esse regime é, na verdade, o que defendia, desde 1939, um dos teóricos do Estado-amigo-e-protector-do-capitalismo, Friedrich Hayek, 63 segundo o qual uma Federação de Estados fundada sobre “as forças impessoais do mercado” seria a instituição mais capaz de colocar estas forças ao abrigo do “poder do povo inteiro”, reduzindo o poder dos cidadãos em cada país 64. Este é um exemplo de poder sociopolítico heterónomo e, por conseguinte, ilegítimo.
Todas as formas de poder político heterónomo, seja qual for o domínio visado, têm um denominador comum: um indivíduo ou um grupo de indivíduos — regra geral uma pequena minoria, mas também, por vezes, uma maioria relativa — dita e impõe as suas leis e normas aos demais. A democracia é o oposto do poder político heterónomo. A democracia é o exercício do poder político autónomo. A democracia integral é o exercício autónomo (e, por conseguinte legítimo) do poder político em todos os seus domínios: sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, socioambiental e sociobiótico.
Porquê poder político ‘legítimo’? Porque o poder político só é legítimo se garantir a autonomia individual e colectiva dos cidadãos. A melhor maneira (na verdade a única maneira) de se conseguir que tal aconteça é garantir que o poder seja exercido por todos os cidadãos, por todo o povo — o que, por sua vez, só é possível se todos os cidadãos forem simultaneamente governantes e governados.
Porquê ‘democracia integral’? Porque a democracia só é genuína se os cidadãos exercerem as três funções do poder político (legislativa, jurisdicional, governativa) em todos os domínios que caem sob a sua alçada: sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, socioambiental e sociobiótico. Uma democracia que se confine a um, dois, três ou quatro destes domínios não é uma democracia integral, mas uma democracia parcial, atrofiada, truncada.
Mas como reconhecer concretamente uma democracia integral ? Temos de começar por distinguir democracia e oligarquia electiva.
Democracia não é o mesmo que oligarquia electiva
No final do século VI a.C., os gregos da cidade de Atenas, o centro urbano da Ática, instituíram um regime político a que deram o nome de democracia. A democracia ateniense perdurou quase dois séculos. Não há notícia de ter sido feita, desde então, nesse ou noutros lugares do planeta, alguma outra tentativa semelhante, numa sociedade pós-gentílica, que tenha ido tão longe quanto a dos atenienses desses dois séculos conhecidos pelos séculos de Péricles (século V a.C.) e o século de Demóstenes (século IV a.C.), nem que tenha sido coroada de êxito durante tanto tempo.
A democracia ateniense não tinha nenhuma semelhança com as impropriamente chamadas “democracias” dos nossos dias.
A primeira e mais radical diferença era a sua rejeição liminar (i) da separação entre governantes (um grupo mais ou menos numeroso, mas minoritário, de indivíduos com funções políticas diferenciadas: executivas, legislativas e jurisdicionais) e governados (a massa politicamente indiferenciada da população de um país que está praticamente excluída do desempenho dessas funções) e (ii) do princípio da representação eleitoral (a presunção de que um pequeno número de governantes seleccionado por meio de eleições “representa” a vontade do grande número dos governados). Um regime edificado com base na admissão destes dois pressupostos pode ser chamado governo representativo 65, mas o termo mais adequado é o de oligarquia electiva, que evita a ambiguidade inerente ao termo representação [ver nota 66 e Post-Scriptum].
A grande maioria dos analistas políticos e a quase totalidade dos políticos e dos jornalistas chama democracia à oligarquia electiva, como se os dois termos fossem sinónimos. Isso, porém, não corresponde à verdade.
A democracia não se baseia na separação entre governantes e governados, nem no princípio da “representação” eleitoral — a ideia de que a massa dos cidadãos não tem capacidade para se autogovernar; que tem tão somente, quando muito, a capacidade de eleger, através do voto, aqueles, poucos (os governantes) que vão governar todos os demais (os governados), ficando tacitamente acordado que os eleitores (ou governados) consentem em confiar aos eleitos (os governantes) o exercício, em seu nome e no seu lugar, do poder político nas suas diferentes funções (a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional), para evitarem as tremendas e insuperáveis dificuldades que, alegadamente, surgiriam se os governados tivessem de exercer eles próprios tais funções em vez de recorrerem a essa intermediação 66. Pelo contrário, a democracia baseia-se no postulado de que (i) todos os cidadãos podem, em pé de igualdade, governar e ser governados — ou seja, desempenhar directa e alternadamente todas as funções do poder político —, um postulado que os atenienses denominavam isonomia, e no postulado (ii) de que qualquer governo de uns poucos (p. ex., o governo de um partido ou de uma coligação de partidos), incluindo um governo electivo inicialmente apoiado por uma maioria de cidadãos, pode facilmente desenvolver (e desenvolve amiúde) políticas públicas perniciosas e com resultados muitas vezes irreversíveis, e pode até, como no caso de Adolf Hitler e do partido nazi em 1933, instaurar um regime de oligarquia totalitária.
Para alcançar os seus intentos, Hitler utilizou a fanfarronice, a chantagem, a mentira, a intimidação em grande escala, o fogo posto, o assassinato e os ataques dos bandos armados de arruaceiros (S.A. e S.S.) do seu partido. Mas não foi só isso que lhe assegurou a vitória. A Mafia também utiliza essas armas e, no entanto, a Mafia nunca conseguiu tomar (nem nunca quis tomar) o poder político num país capitalista industrialmente desenvolvido. O factor decisivo que assegurou a vitória de Hitler foi o modo como conseguiu enganar os partidos seus aliados (o partido do Centro Católico e o Partido Conservador Nacionalista, que lhe deram o voto no Parlamento para que governasse ditatorialmente, mas não para os eliminar…) e paralisar os partidos seus adversários (o Partido Social-Democrata e o Partido Comunista), sobretudo os milhões de cidadãos que votavam tradicionalmente nesses partidos. Para enganar uns e paralisar os outros, Hitler só teve de invocar os argumentos básicos dos partidos defensores da oligarquia electiva: (i) Temos um mandato para governar durante 4 anos que nos foi conferido pela maioria que nos elegeu: 17,7 milhões de votos (43,91% dos votos); (ii) Ninguém melhor do que o partido vencedor das eleições está em medida de decidir o melhor modo de realizar o mandato que o povo lhe confiou; (iii) Precisamos de estabilidade governativa: deixem-nos governar !

Jair Messias Bolsonaro poderá também invocar os mesmos argumentos no Brasil, agora que foi eleito Presidente da República desse país, com 57,7 milhões de votos (55,13% dos votos válidos). «Caso eu seja eleito presidente, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra será reconhecido como herói da pátria», disse Bolsonaro, no ano passado, em entrevista, gravada em vídeo, ao jornal O Estado de S. Paulo 67. Já em 2016, durante o seu voto a favor do “impeachment” (destituição) de Dilma Rousseff, o hoje Presidente da República tinha declarado: «Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.»
Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do exército falecido em 2015, foi o primeiro militar condenado pela justiça brasileira pela prática de tortura durante o período da ditadura militar (1964-1985), quando chefiou o DOI-CODI, um dos órgãos de repressão política desse regime. Dilma Roussef, ex-presidente da República do Brasil, foi presa em 1970 e torturada várias vezes, entre 1970 e 1973, pelo capitão Benoni de Arruda Albernaz, pelo então capitão, hoje tenente-coronel reformado, Maurício Lopes Lima, e pelo major Waldyr Coelho, três dos sequazes do coronel Ustra68.
Ainda a propósito da ditadura militar, cerca 700 oficiais do Exército, da Marinha e da Força Aérea, entre os quais Bolsonaro, que é capitão do Exército na reserva, reuniram-se no Clube Militar do Rio de Janeiro, em 7 de Agosto de 2008 para protestar contra a possibilidade de revisão da lei de Amnistia, que poderia levar à punição de acusados de torturas e outros crimes praticados contra presos políticos durante a ditadura militar brasileira. Nesse dia, perante um grupo de contramanifestantes, Bolsonaro declarou que «o único erro [da ditadura militar] foi torturar e não matar», afirmação que repetiu em 8 de Julho de 201669.

Já em 1998, em considerações sobre a ditadura chilena do general Pinochet (1973-1990) — que assassinou mais de 3.200 pessoas (cujos cadáveres, em centenas de casos, nunca foram recuperados) e torturou outras 38.00070 — Bolsonaro afirmara que «Pinochet devia ter matado mais gente.»71
As oligarquias electivas nada têm que ver com a democracia, como a oligarquia electiva (o “governo representativo” na terminologia de J. Stuart Mill) de Adolf Hitler mostrou de maneira particularmente mortífera e destrutiva no século XX. Mas não estamos de modo nenhum a salvo de outros episódios semelhantes nos dias de hoje. Dada a confusão reinante entre oligarquia electiva e democracia, as oligarquias electivas continuam a servir de alibi “democrático” para homens como Orban (Hungria), Putin (Rússia), Edorgan (Turquia), Modi (Índia), Duda (Polónia), Duterte (Filipinas), Trump (EUA) — e a partir de agora também Bolsonaro (Brasil) — tentarem cercear os direitos civis e as liberdades democráticas dos povos que os elegeram e que dizem representar.
Uma coisa é certa: é muito difícil (para não dizer impossível, o que nunca se deve dizer) imaginar a tomada de poder de alguém como Adolf Hitler na Alemanha dos anos 1930, ou como Jair Bolsonaro no Brasil de hoje, numa democracia genuína, num regime onde todos os cidadãos tenham os meios de agir em prol do bem comum, em que todos sejam alternadamente governantes e governados72.
A democracia ateniense: uma realização sem precedentes e, no essencial, sem sequentes (por enquanto)
A democracia neste sentido, no sentido neo-ateniense do termo — que é também o sentido etimológico da palavra grega dêmokratia (democracia): dêmos (o conjunto dos cidadãos, o povo) + kratos (poder, capacidade de fazer/agir), o poder do povo — é o regime da autocapacitação dos cidadãos para organizarem a sua vida social em todos os domínios institucionais pertinentes, o regime do autogoverno do povo.
Vale a pena passar em revista, ainda que muito brevemente, os vários métodos desenvolvidos pela democracia ateniense dos séculos V e IV a.C. para assegurar o exercício do poder do povo, pelo povo e para o povo, porque são únicos no seu género, porque são desconhecidos da maioria das pessoas e porque não perderam actualidade.
1. O direito de todos os cidadãos maiores de 20 anos participarem na Eclésia (Ekklêsia), a assembleia geral soberana da pólis (república), de nela poderem tomar a palavra, apresentar propostas e votar livremente segundo a sua consciência73.
2. O direito de todo o cidadão maior de 30 anos de ser magistrado (arkhê ou arquê), nomóteta (nomothétês) — um tipo especial de jurisprudente ou jurisconsulto sem paralelo nas sociedades contemporâneas — e jurado (dikastês) — um cargo que também não tem paralelo com o de jurado nos tribunais de júri contemporâneos, mas que pode ser descrito como um misto de juíz e jurado, tal como estes existem nos tribunais americanos.
3. Os magistrados, cerca de 1200 cidadãos, eram ou tirados à sorte (entre todos os cidadãos que se tinham previamente declarado disponíveis e que eram arrolados numa lista pública), ou eleitos entre candidatos autopropostos ou propostos por terceiros74.
3.1. Eram poucos os magistrados (cerca de 100) e poucas as categorias de magistrados escolhidos por eleição: os comandantes militares, os encarregados do treino militar dos efebos, os administradores financeiros mais importantes e alguns outros magistrados como, por exemplo, o superintendente das fontes (i.e. do serviço público das águas).
3.2. O grosso dos magistrados, cerca de 1100 cidadãos, era escolhido por sorteio (e quase todos por um mandato de 1 ano, não renovável), assim como todos os juriconsultos e todos os jurados.
4. Magistrados (arkhai ou arquai) era um termo genérico que abrangia os membros de vários conselhos ou colégios, os quais, por vezes, se subdividiam em comissões75.
4.1. O principal conselho (boulê) era o Conselho dos 500, composto por 50 cidadãos de cada uma das 10 phylai (plural de phylê, uma subdivisão do colectivo de cidadãos, por vezes traduzida, com impropriedade, por “tribo”76), tirados à sorte, anualmente, de entre os cidadãos que se tivessem previamente declarado disponíveis nos 139 dêmes (municipalidades) da República Ateniense.
4.2. Os cidadãos atenienses só podiam ser eleitos buleutas (bouleitai), membros do Conselho dos 500, duas vezes na vida e nunca em dois anos sucessivos. O Conselho dos 500 reunia todos os dias úteis (cerca de 250 dias por ano) num edifício público situado perto da ágora, a grande praça pública que era o centro socioeconómico e sociopolítico de Atenas. Tinha por função (i) preparar os trabalhos da Eclésia, a Assembleia do Povo, (ii) preparar os trabalhos da comissão dos nomótetas (nomothêtai), e (iii) dirigir a administração pública.
4.3. Além do Conselho dos 500 buleutas havia uma grande variedade de colégios especializados de magistrados. Na Constituição dos Atenienses, Aristóteles enumera e descreve 46 magistrados ou colégios de magistrados diferentes. É o caso, por exemplo, dos apodektai, um colégio de 10 magistrados financeiros, recebedores-gerais, composto por 1 cidadão tirado à sorte de cada phylê. Em colaboração com o Conselho dos 500, os apodektai tinham por função garantir a boa aplicação de todas receitas da república e redistribui-las pelos diversos colégios de magistrados incumbidos de as administrar.
4.4. Outro colégio de magistrados era o colégio dos astynomoi, composto também por 1 magistrado tirado à sorte de cada phylê. Os asthynomoi tinham, entre outras funções, as da zelar pela limpeza das ruas e pelo respeito das regras de construção urbana.
4.5. Ainda outro colégio de magistrados, era o dos phrouroi, composto por 500 cidadãos tirados à sorte nos 139 dêmes (municipalidades) de Atenas. Eram os guardas dos arsenais, que exerciam uma função mista de polícia e sentinela militar.
4.6. Outro colégio de magistrados era o dos prítanes (prytáneis), um colégio de 50 membros tirados à sorte em número igual (10) por cada phylê (5). Era este colégio que servia, alternadamente, de comissão executiva do Conselho dos 500 e da Assembleia do Povo. Os 10 prítanes de cada phylê exerciam esta função durante uma pritania — ou seja, durante um décimo de ano: 35 ou 36 dias nos anos normais; 39 ou 38 dias nos anos intercalares. Findo este período, eram substituídos por outros 10 prítanes de outra phylê e assim sucessivamente.
4.7. Além dos prítanes existiam os proedros (proédroi), uma comissão de 9 membros do Conselho dos 500, que eram tirados à sorte, por um só dia, entre os 450 membros desse Conselho que não eram prítanes. Os proedros tinham como única função presidir ao Conselho dos 500 e à Assembleia do Povo (Eclésia). Eram presidentes da República por um dia!
4.8. Além dos colégios, havia também várias comissões especializadas de magistrados escolhidos por sorteio. Era o caso, por exemplo, da comissão dos euthynoi (auditores públicos), uma comissão de 10 membros do Conselho dos 500, que registava e documentava as acusações de abuso ou mau uso de poder (por exemplo, peculato ou corrupção) que os cidadãos podiam fazer contra magistrados cujo mandato tivesse expirado. As acusações apresentadas eram depois objecto de um processo judicial diante de um júri do Tribunal do Povo. Eram os euthynoi que presidiam a este tribunal nestes casos. Outra comissão era a dos logistai (revisores de contas), uma comissão de 10 membros do Conselho dos 500 que tinha por função inspeccionar o modo como eram administrados os fundos públicos pelos magistrados em cada pritania.
5. Os nomótetas (nomothêtai, literalmente os “estabelecedores da lei”), eram um conselho constituída por cidadãos (por exemplo, 501, ou 1001, ou 1501) tirados à sorte com base num painel de 6000 cidadãos maiores de 30 anos que se tivessem previamente declarado disponíveis.
5.1. Os nomótetas (jurisprudentes ou juriconsultos) estavam encarregados da codificação e da revisão das leis e dos decretos-lei já aprovados e participavam no debate sobre a ratificação das propostas de lei que lhe eram enviadas nesse sentido pelo Conselho dos 500, as quais votavam depois de braço no ar. Os nomótetas eram sorteados para um único dia.
6. Os jurados (dikastai) eram também tirados à sorte, anualmente, de entre o painel dos 6000 cidadãos disponíveis. Eram chamados a participar, por um dia, num tribunal (dikastêrion), também por sorteio feito no mesmo dia.
6.1. Tal como os cidadãos sorteados como nomótetas, os cidadãos sorteados como jurados faziam então um juramento solene (o juramento dito “heliástico”, daí o nome de “heliastas” que era dado a uns e a outros) de que cumpririam lealmente as tarefas de jurado ou de nomóteta que lhes viessem a caber em sorte, de acordo com as leis e decretos em vigor, ou, na ausência de textos legais, de acordo com o seu sentido de justiça, «sem favor nem ódio» e, no caso dos jurados, «prestando igual atenção ao acusador e ao acusado.»
6.2. O principal tribunal era o Tribunal do Povo (Heliéia ou Dikasterion) onde a maior parte dos processos judiciais — tanto cíveis como criminais (muito poucos), tanto de natureza privada como de natureza pública (a grande maioria) — eram dirimidos por júris constituídos por centenas de jurados: 201 ou 401 jurados para os processos de natureza privada, 501 jurados para a maioria dos processos de natureza pública. Em certos casos, este número podia elevar-se para 1001 ou 1501 ou 2501.
6.3. Além de julgar as acções cíveis e criminais, o Tribunal do Povo também realizava a docimasia (dokimasia), um exame de avaliação da idoneidade dos candidatos a uma magistratura, antes da sua entrada em funções (tarefa que partilhava com o Conselho dos 500). Tinha também o poder de anular, se para tal fosse solicitado pelos cidadãos, certas leis aprovadas pelos nomótetas e certos decretos aprovados pela Eclésia, funcionando assim, neste particular, como os actuais tribunais constitucionais. O Tribunal do Povo reunia-se cerca de 200 vezes por ano sob a presidência de diversos magistrados, na maior parte das vezes os 9 magistrados mais importantes, conhecidos por arcontes.
7. A Assembleia do Povo ou Eclésia, onde todos os cidadãos atenienses tinham o direito de participar e de votar, reunia-se cerca de 40 vezes por ano na época de Demóstenes (355-322 a.C.). Juntava geralmente uma média de 6000 pessoas. Era convocada pelos prítanes, presidida pelos proedros e só podia debater as questões previamente examinadas pelo Conselho dos 500. Votava de braço no ar na eleição de algumas categorias de magistrados (p.ex. os estrategos) e na aprovação ou rejeição dos tratados com outros países e, em política interna, em todas as questões importantes.
8. Não havia exército profissional nem marinha de guerra profissional na república ateniense. A defesa militar contra qualquer agressão externa era assegurada pelo colectivo dos cidadãos atenienses e pelos metecos (os residentes estrangeiros), com a ajuda dos escravos. Por isso, todos os efebos (jovens atenienses dos 18 aos 20 anos e do sexo masculino) cumpriam um serviço militar obrigatório a fim de aprenderem o manejo das armas. Em caso de ataque por um inimigo externo poderoso, os cidadãos até aos 58 anos podiam ser mobilizados para os combates.
8.1. Os comandantes supremos (generais e almirantes) das forças militares (exército [infantaria e cavalaria] e marinha de guerra), eram denominados estrategos (strategoi). Estes magistrados, em número de 10, eram eleitos anualmente pela Eclésia, sendo o seu mandato renovável sucessivamente. Eram investidos de plenos poderes no campo de batalha. Em Atenas, trabalhavam de concerto com o Conselho dos 500 e presidiam ao Tribunal do Povo em todos os assuntos que diziam respeito aos deveres e às infracções militares.
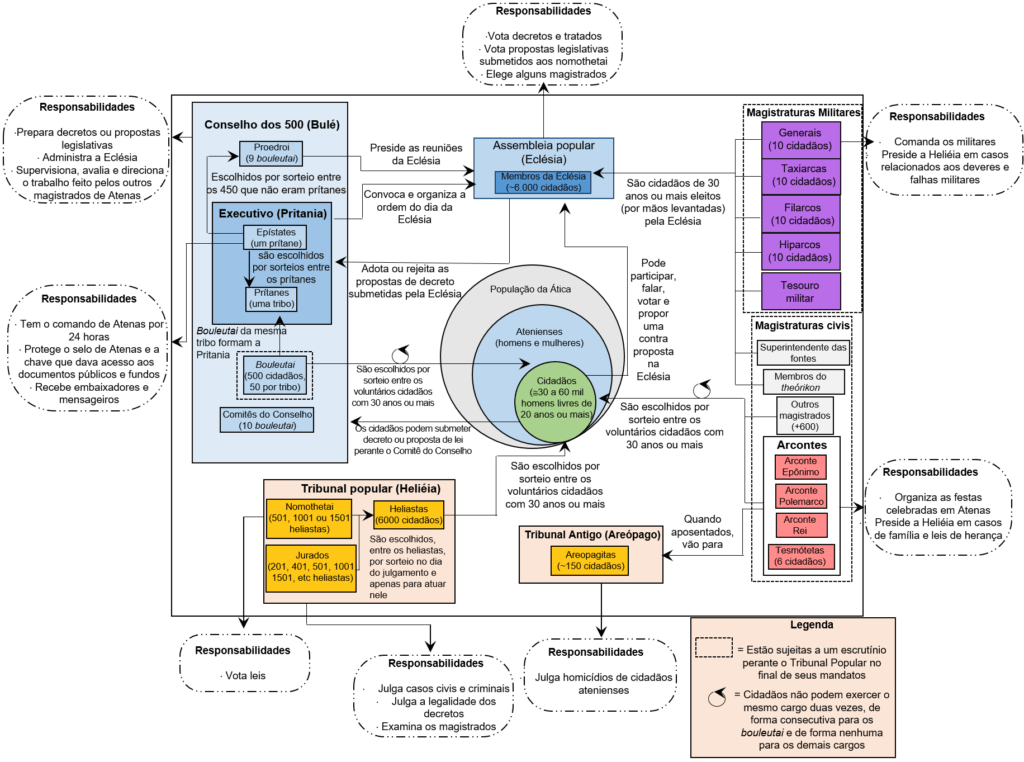
8.2. O povo ateniense mantinha os seus estrategos sob apertada vigilância, em virtude de um salutar temor à tirania. Como todos os outros magistrados, os estrategos estavam sujeitos, no fim do seu mandato no cargo, a um exame público de avaliação e prestação de contas denominado euthyna, em que se averiguava se o estratego tinha cumprido bem as suas funções. No fim desse exame, feito pelos tribunais, era realizada uma votação na Eclésia. Caso o voto fosse contrário, o estratego, era demitido do seu cargo e julgado por um júri do Tribunal do Povo.
8.3. Além dos estrategos, eram eleitos pela Eclésia, também por um ano, os prefeitos (kosmêtês), magistrados encarregados do treino militar dos efebos, os taxiarcas (taxiarkoi), comandantes de regimentos de infantaria, e outros magistrados militares como os filarcas e hiparcas (comandantes de cavalaria), os quais, tal como sucedia com os estrategos, eram reelegíveis por períodos anuais sucessivos pela Eclésia.
9. Não havia polícia profissional em Atenas. As tarefas policiais, tais como, por exemplo, a guarda dos arsenais ou a supervisão dos serviços prisionais, eram desempenhadas rotativamente e durante um período curto por magistrados tirados à sorte. Os únicos polícias armados e a tempo inteiro eram…escravos! Eram os chamados arqueiros Citas, um corpo policial constituído de cerca de 300 escravos públicos de origem Cita (um povo sediado na Trácia, nessa época) comprados pela república ateniense e remunerados pelos seus serviços. Cabia-lhes policiar a cidade e manter a ordem nos tribunais, na Eclésia e nas assembleias de toda a espécie. Desconhece-se se estes escravos públicos usavam o seu tradicional armamento letal (arco e flechas) nas suas tarefas corriqueiras, o que não parece plausível. Certas fontes referem que usavam apenas, habitualmente, um chicote, ao passo que outras referem também um bastão, o que parece plausível.
O que podemos aprender com os atenienses de outrora
Desta descrição77, importa reter algumas lições perenes.
A. A ideia de “oligarquia electiva”, a ideia de que podem (e devem) existir especialistas no exercício do poder político, indivíduos especialmente fadados para exercerem o poder político em nome da massa dos cidadãos ou, nos reinos parlamentares, da massa dos súbditos, é uma ideia moderna, com muitos defensores conhecidos: e.g. John Locke, Montesquieu, John Adams, James Madison, Alexander Hamilton, Jacques Pierre Brissot, Emmanuel-Joseph Sieyès, Benjamin Constant, John Stuart Mill, Karl Kautsky, Vladimir Ilyich Ulyanov (mais conhecido por Lenine), Winston Churchill. A contrapartida dessa ideia, é a do cidadão que um dia, de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos (ou de 5 em 5, ou de 6 em 6) vota livremente para escolher quem o vai governar e regressa, no mesmo dia, à sua vida privada até às próximas eleições. Ela foi muito bem expressa no seguinte trecho, com uma única ressalva, assinalada com uma letra de cor diferente:
Na base de todas as homenagens feitas à democracia está o homenzinho [little man] que entra no cubículozinho de voto e faz, com um lapisinho, uma cruzinha num pedacinho de papel — nenhuma quantidade de retórica nem nenhuma discussão nutrida poderá alguma vez diminuir a avassaladora importância deste facto (Winston Churchill no Parlamento britânico, em 31 de Outubro de 194478).
A.1. A ressalva a fazer nesta citação consiste em substituir «à democracia» por «à oligarquia electiva». A democracia, tal como os atenienses dos séculos V e IV a.C. a definiram e instituíram, é um regime diametralmente oposto ao da oligarquia electiva (o “governo representativo” na terminologia de J. Stuart Mill e B. Manin). Não havia, na democracia ateniense, “homenzinhos” que escolhiam, através do voto, “homens” ou “grandes homens” para pensarem e agirem em seu nome e em seu lugar em tudo o que diz respeito ao “bem comum.” Por outras palavras, não havia, na democracia ateniense, nenhuma ideia de “representação-substituição” do povo por um grupo de alegados especialistas da política (os chamados “governantes”, “estadistas”, “ministros”, “comissários do povo”, “políticos”, ou membros da “classe política”). A ideia de que um cidadão pudesse abdicar voluntária e periodicamente (por 2, 4, 5, 6 ou 7 anos) do exercício dos seus direitos de participação no poder político e entregá-lo, em regime de monopólio, a um grupo de outros cidadãos seus “representantes-substitutos” durante esse período, não passava pela cabeça de ninguém e, se passasse, seria considerada uma imbecilidade.
A.2. Os atenienses chamavam idiôtés (o étimo da nossa palavra idiota) aos cidadãos que se afastavam dos assuntos políticos para se meterem na conchinha da sua vida privada. A sua expressão contemporânea são os ditos proverbiais: «Não me meto em política», «a minha política é o trabalho.» Essa atitude representava, para os atenienses antigos, o cúmulo da falta de discernimento, daí a associação ulterior entre a idiotia e a imbecilidade. Só a plena participação no exercício do poder republicano os qualificava como cidadãos, politai (plural de polités, cidadão). Os atenienses que faziam jus ao seu estatuto de cidadãos pela actividade cívica que desenvolviam eram apelidados de politeuoménoi (sing. politeuoménos). De contrário, eram considerados idiôtai (plural de idiôtés), “homens privados”, ou seja, “homenzinhos” inúteis.
A.3. Péricles já tinha corrigido Churchill antecipadamente — 2395 anos antes deste ter pronunciado as palavras supracitadas — quanto à diferença fundamental entre democracia (o regime político em que todos os cidadãos governam e são governados em pé de igualdade e onde, em caso de divergência de opiniões sobre a melhor decisão a tomar, prevalece a opinião da maioria, sem que isso signifique necessariamente que a maioria tem razão e que a minoria se deva calar) e oligarquia electiva (o regime político em que uns poucos presuntivos representantes eleitos da maioria dos “homenzinhos” governam os mesmos “homenzinhos” que os elegeram). Eis o que Péricles disse e que Churchill dessoube:
«A nossa constituição política [a constituição dos Atenienses, N.E.] nada tem a invejar às que regem outras comunidades. Não imitamos os nossos vizinhos, somos, isso sim, um modelo para eles. A governação da nossa república está nas mãos dos muito numerosos e não dos poucos numerosos. É por isso que se chama democracia. 79
Nela, as leis asseguram a igualdade de todos os cidadão no que toca à solução dos diferendos privados. Mas quando se trata de participar na vida pública, cada um obtem a consideração que resulta do seu mérito e não da classe a que pertence. Numa palavra, nem a pobreza nem a obscuridade da sua condição social constituem obstáculos a quem queira prestar serviços à república. A liberdade é a nossa regra na condução da nossa vida pública e não há lugar para a suspeita nas nossas relações privadas. Não nos irritamos com o nosso vizinho se ele age como lhe apraz, nem o olhamos com ares de reprovação que, embora inofensivos, lhe causariam desgosto. Evitamos ofender os outros no nosso convívio privado, e abstemo-nos de transgredir as leis da república em virtude de um temor salutar. Obedecemos sempre aos magistrados e às leis, especialmente àquelas que foram promulgadas para socorrer os oprimidos e às que, embora não escritas, trazem aos transgressores um desprezo generalizado.»
«Um cidadão ateniense aceita ser responsável quer pelos assuntos que dizem respeito à sua esfera privada, quer pelos assuntos que dizem respeito à esfera política e, apesar de homens diferentes estarem envolvidos em actividades diferentes, nem por isso carecem de discernimento no que respeita aos assuntos políticos. Só nós, Atenienses, é que consideramos um homem que não participa nos assuntos políticos não como sendo alguém que é um cidadão indiferente, mas como sendo alguém que é um inútil. É que, se são poucos aqueles que são capazes de formular uma política pública, todos somos capazes de emitir sobre ela um juízo adequado.
Em nossa opinião, o maior obstáculo à acção, não é a discussão, mas a falta daquele conhecimento que se adquire através da discussão preparatória da acção. Porque nós temos uma capacidade peculiar de unir deliberação e ousadia, ao passo que, para outros homens, a ousadia é o fruto da ignorância e a hesitação o fruto da reflexão» (…)80
B. Para os Atenienses a democracia é o regime político em que os cidadãos são autonomous, autoteleis e autodikoi, como salientou Tucídides81. É autonomous (auto + nomous), autónoma, uma comunidade política que se rege por leis da sua própria autoria, que institui as suas próprias leis, em vez de as receber de outros ou de uma divindade. Auto-instituição e autonomia são aqui sinónimos. Uma comunidade autodikos (auto+dikos) julga-se a si própria, ou seja, tem os seus próprios tribunais, que são a única instituição encarregada de zelar pelo respeito das leis. E uma comunidade política é autotelos (auto+telos) na medida em que se governa a si própria.
Por outras palavras, uma democracia é uma comunidade política (politeia) de cidadãos livres que fazem as leis, julgam e se autogovernam sem rebuço82 — ou seja, sem cederem as suas prerrogativas a alegados “representantes.”
C. Por sua vez, esta capacidade dos cidadãos atenienses viverem em democracia e fazerem viver a democracia baseava-se na eleutheria (liberdade), a qual se traduzia na isegoria (o direito à igualdade no uso da palavra e na possibilidade de fazer propostas na Eclésia e nos outros órgãos políticos), na parrhesia (o direito de falar em público com toda a liberdade sobre os assuntos da comunidade, quer na Eclésia quer nos outros órgãos de debate público, e a obrigação moral de o fazer com toda a franqueza), na isopsêphia (o direito à igualdade de todos os votos), e na isonomia (a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e na participação de todos nas funções do poder político — executiva, legislativa e jurisdicional).
D. Concretamente, a isonomia quer dizer isto: as decisões importantes —p.ex., as leis, os actos de governo, os tratados com outros países, as declarações de guerra ou de paz — são sempre tomadas pelo conjunto dos cidadãos reunidos na Eclésia.
Na medida em que os magistrados, os nomótetas (jurisprudentes) e os jurados são indispensáveis ao autogoverno de uma sociedade complexa de cidadãos livres e iguais, eles são designados por tiragem à sorte e/ou por rotatividade.
Na medida em que certos magistrados são indispensáveis e que o exercício da sua magistratura pressuponha um saber específico, uma perícia e/ou uma tecnicidade muito especiais — como, por exemplo, no caso dos estrategos ou dos administradores financeiros — eles serão eleitos pela Eclésia por mandatos renováveis, mas de curta duração. Serão também sujeitos quer a um exame de avaliação da sua idoneidade (como todos os demais magistrados) quer a um exame de avaliação a priori das suas competências específicas (ao contrário dos demais magistrados), ambos anteriores à sua eleição, assim como a um exame de avaliação dos seus desempenhos no termo dos seus mandatos.
D.1. A democracia ateniense considerava a tiragem à sorte dos magistrados, dos nomótetas e dos jurados como sendo o mecanismo essencial de garantia da isonomia. Porém, estava também ciente de alguns riscos e inconvenientes que lhe estavam associados, razão pela qual criou vários dispositivos que os anulassem, ou pelo menos os minorassem. Foi esse o caso, entre outros, da (i) colegialidade no exercício dos mandatos (uma vacina contra a gravidade de um possível erro causado por falta de discernimento ou falta de conhecimento de alguns dos seleccionados por sorteio); (ii) a obrigação dos nomótetas e dos jurados de se sujeitarem, antes da tomada de posse, a um juramento de probidade (o juramento dos heliastas); (iii) a obrigação dos magistrados seleccionados por sorteio de se sujeitarem, antes da tomada de posse, à docimasia, uma avaliação não de competência mas de idoneidade; (iv) o apocheirotonia, um dispositivo que consistia a aprovação na Eclésia de um voto de censura a um magistrado acusado de má conduta, com efeito de suspensão das suas funções até ao momento em que o Tribunal do Povo pudesse julgar da verdade ou falsidade das acusações que lhe eram feitas; (v) o eisangélia eis tên boulên, um dispositivo que consistia na denúncia (eisangélia) de um magistrado por má conduta, feita perante o Conselho dos 500. O caso era então julgado pelo Conselho dos 500, que podia aplicar uma multa até 500 dracmas ao prevaricador. Nos casos mais graves, o assunto era remetido para um tribunal; (vi) o eisangélia eis ton dêmon, um dispositivo que consistia na denúncia, feita perante a Eclésia, de um estratego, de um orador de nomeada (réthor) ou de qualquer outro cidadão, acusado de ter cometido um crime político.
D.2. A democracia ateniense considerava a eleição de certos magistrados83 como uma necessidade prática naqueles casos em que era requerida uma qualificação técnica para o exercício cabal de tal ou tal magistratura (caso, por exemplo, dos estrategos).Todavia, a democracia ateniense estava também ciente de que a eleição assenta num princípio elitista, aristocrático (aristoi, os melhores; aristokratia, o governo dos melhores elementos da comunidade), visto que só podemos justificar racionalmente uma eleição com o argumento de que pretendemos escolher os melhores para uma dada tarefa ou para um dado cargo, não os piores ou os medíocres. Para prevenir e mitigar os riscos e os inconvenientes decorrentes desse aristocratismo/elitismo, a democracia ateniense criou o dispositivo da euthyna e a renovação anual dos mandatos electivos.
D.3. A democracia ateniense considerava a aliança da parrhesia (a liberdade e a franqueza de expressão) com a isegoria (a igualdade no uso da palavra e no direito de fazer propostas na Eclésia e nas demais assembleias políticas) como sendo o mecanismo essencial da discussão preparatória da acção, da tomada de boas decisões e da feitura de boas leis. Todavia, estava também ciente dos riscos e inconvenientes resultantes do abuso da liberdade e da igualdade de expressão, razão pela qual criou vários mecanismos institucionais que os pudessem prevenir ou pelo menos minorar.
D.4. Os mais originais eram o graphê paranomon e o graphê nomon mê épitêdeion theinai. Ambos consistiam numa acção cível pública intentada contra um cidadão que tivesse proposto um decreto-lei (psêphisma) ou uma lei (nomos) inconstitucional, contrário às leis em vigor, prejudicial aos interesses do povo ou/e inoportuno. Se a acção fosse interposta já depois da aprovação do decreto-lei em causa (pela Eclésia) ou da lei em causa (pelos nomótetas), seguia-se a sua suspensão até o assunto ser julgado pelo Tribunal do Povo. Se o autor da lei ou do decreto-lei em causa fosse declarado culpado, a lei ou o decreto-lei era anulado e o seu autor multado.
D.5. Um outro dispositivo que permitia à democracia autocontrolar-se era o apatê tou dêmou. Era uma acção judicial intentada contra qualquer cidadão que tivesse proposto a votação na Eclésia de qualquer medida baseada em informações falsas e passível, portanto, de ser acusado de tentar enganar o povo.
D.6. Para concluir este inventário há que referir o ostracismo. Era uma punição aplicada pela Eclésia a qualquer cidadão que atentasse contra a liberdade pública. Consistia na perda de direitos políticos e na condenação ao exílio, fora da cidade de Atenas, por um período de dez anos. O termo ostracismo deriva do método de votar esta punição, a mais severa de todas, que consistia na escrita do nome do cidadão a punir num fragmento de cerâmica denominado óstraco.
E. A pólis ateniense dos séculos V e IV a.C., não era, num aspecto fundamental, um Estado no sentido moderno do termo — ou seja, não existia nela um aparelho de poder político separado do colectivo dos cidadãos e dotado de uma força pública de coerção possuidora do monopólio do uso considerado legítimo da violência armada contra esses mesmos cidadãos84.
E.1. Existia, bem entendido, um aparelho técnico-administrativo muito importante e também muito semelhante, nas suas funções técnico-administrativas essenciais, à administração pública dos países contemporâneos onde vigoram regimes representativos. Uma das características mais surpreendentes desse aparelho em Atenas é o facto de os seus cargos subalternos serem preenchidos por escravos públicos remunerados. Os cantoneiros, pedreiros, contabilistas, escrivães, oficiais de justiça, arquivistas, secretários-assessores dos colégios de magistrados que se ocupavam da higiene e manutenção das ruas, das praças e dos edifícios públicos, da contabilidade pública, das finanças públicas, da publicitação e codificação das leis, da conservação dos arquivos públicos, etc., eram escravos públicos, como eram também escravos públicos os próprios polícias.
Este facto mostra bem que estes funcionários não exerciam nenhuma função política, nenhuma função de poder político explícito (legislativa ou jurisdicional ou executiva) nem de facto nem de jure. Independentemente da importância e da utilidade dos cargos que desempenhavam, eram apenas elementos de um mecanismo administrativo. A prova disso é que a sua actividade era supervisionada por cidadãos-magistrados geralmente escolhidos por sorteio e, nalguns casos, por eleição, durante um período de duração geralmente anual.
E.2. Em resumo, não havia uma judicatura separada do colectivo de cidadãos (isto é, cujos quadros fossem preenchidos por juízes e procuradores de carreira, inamovíveis), nem uma polícia separada do colectivo dos cidadãos (isto é, cujos quadros fossem preenchidos por polícias de carreira), nem forças militares separadas do colectivo dos cidadãos (isto é, cujos quadros fossem preenchidos por militares de carreira). Numa palavra, não havia aparelho de Estado propriamente dito. Todas as funções legítimas e necessárias (jurisdição, policiamento e defesa) que são desempenhadas pelo aparelho de Estado, tal como o conhecemos actualmente nos regimes de governo representativo (nomeadamente nas oligarquias liberais), eram desempenhadas por sorteio e/ou à vez (rotativamente) pelo colectivo dos cidadãos, ou, mais raramente, por eleição, e sempre por um período de serviço curto (regra geral de um ano).
Não é, pois, curial falar de Atenas desta época como sendo uma “cidade-Estado”85. A Atenas dos séculos V e IV a.C. era uma democracia e a democracia é incompatível com o Estado86. Para a democracia existir, o Estado tem de desaparecer e vice-versa. Este é o grande ensinamento que nos deixaram os Atenienses de outrora.
Democracia parcial e democracia integral
A democracia ateniense não constitui um modelo a seguir, mas é, sem dúvida, um gérmen, um índice de viabilidade, da democracia integral de que precisamos para evitar que a humanidade sucumba à voragem do capitalismo ou que se afunde em formas de barbárie leprosa (a barbárie como lepra da civilização) 87 — e que seriam bem piores do que as formas de barbárie que conheceu no passado recente, dada a profunda degradação que a biosfera, a hidrosfera e a litosfera terrestres sofreram desde então e a proliferação de armas muito mais mortíferas. Filmes de ficção científica, como os da série Mad Max ou da série Resident Evil, e romances distópicos como A Estrada, de Cormac McCarthy, dão-nos uma ideia vívida do que poderiam ser essas formas de barbárie leprosa.
A democracia ateniense não constitui um modelo que devamos ou possamos imitar, por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, a sociedade ateniense era, do ponto de vista socioeconómico, muito diferente das sociedades capitalistas desenvolvidas em que vivemos hoje em dia — na maior parte da Europa (incluindo a parte europeia da Rússia), na América do Norte, na Ásia (Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan), e na Australásia (Austrália, Nova Zelândia). Era uma sociedade maioritariamente constituída de pequenos produtores autónomos (camponeses independentes que eram proprietários das suas terras, dos seus instrumentos de trabalho e do seu gado, e artesãos independentes88), comerciantes e prestamistas (na sua grande maioria metecos) — e, por conseguinte, muito diferente da sociedade capitalista contemporânea, onde predominam o trabalho assalariado por conta de outrem, a maquinofactura e as “sociedades comerciais.” Acresce que essa sociedade de pequenos produtores autónomos e pequenos negociantes tinha, como apêndice colectivo, um importantíssimo enclave esclavagista, algo que não existe de todo nas sociedades actuais da Europa, América do Norte, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Austrália e Nova Zelândia.

O maior defeito da politeia ateniense era o de aceitar a existência de escravos, que estavam, por definição, excluídos da cidadania89. A existência de escravos nunca foi posta em causa pelos cidadãos comuns atenienses ou pelos seus rêthores (cidadãos dotados de invulgares talentos na enunciação e defesa de políticas públicas). Só alguns filósofos sofistas o fizeram, mas sem que isso tivesse tido consequências políticas.
O segundo defeito da politeia ateniense era o de excluir as mulheres da cidadania. A exclusão das mulheres da cidadania nunca foi posta em causa pelos cidadãos comuns atenienses nem pelos seus rêthores90. Só alguns dramaturgos, como Aristófanes, o fizeram, sob a forma corrosiva da comédia, mas sem que isso tivesse tido consequências políticas.

O terceiro defeito da politeia ateniense não é bem um defeito matricial, mas, antes, uma estreiteza de horizontes no domínio socioeconómico. Houve lutas entre ricos e pobres que tiveram sempre como pano de fundo a questão da abolição das dívidas dos pequenos camponeses e de uma reforma agrária que produzisse uma repartição das terras que lhes fosse mais favorável. O episódio mais conhecido é o da reforma de Sólon (séc. VI a.C.) que pôs fim à escravidão por dívidas. No entanto, em Atenas, os heliastas, no século IV a.C., comprometeram-se, por juramento, a não votar favoravelmente qualquer redistribuição de terras. Regra geral, o dêmos limitou-se a taxar os ricos de diversos modos. O principal eram as chamadas liturgias, mediante as quais os cidadãos mais ricos se encarregavam de financiar certos serviços públicos e certas actividades culturais91.
Estes três defeitos mostram bem que a politeia ateniense não era uma democracia integral. A democracia integral não é compatível com a escravidão, com a desigualdade de direitos de cidadania entre homens e mulheres, e com a desigualdade de rendimentos entre ricos e pobres. A democracia integral é uma democracia em que a isonomia se estende a todos os domínios institucionais da sociedade implicados na promoção do bem comum: sociopolítico, socioeconómico, sociocultural, sociobiótico e socioambiental.
Se a democracia ateniense dos séculos V e IV a.C. não é um modelo a seguir, pelas razões apontadas, ela é, no entanto, indubitavelmente, e pelas razões também apontadas, um gérmen da democracia integral de que precisamos para garantir um futuro sustentável à humanidade.
A democracia integral não é viável sem o exercício das três funções do poder político (legislativa, executiva e jurisdicional) pelo colectivo dos cidadãos — exercício que a democracia ateniense foi a primeira a realizar. A democracia integral não é viável sem a ampliação a todos os demais domínios institucionais da sociedade (socioeconómico, sociocultural, sociobiótico, socioambiental) dos princípios da isonomia (igualdade de participação em todas as funções do poder político), da isopsêphia (igualdade/ equivalência de todos os votos), da isegoria (igualdade de iniciativa política) e da parrhesia (liberdade e franqueza de expressão) — princípios que a democracia ateniense inventou e aplicou no domínio sociopolítico. A democracia integral não é viável sem a mais extensa aplicação dos métodos do sorteio, da rotatividade, da brevidade dos mandatos e do escrutínio público dos magistrados (executivos/administradores, jurisprudentes/legisladores e juízes/jurados) — métodos que a democracia ateniense foi a primeira a aplicar.
Democracia integral versus oligarquia liberal
Recapitulando: a sociedade capitalista — caracterizada pela apropriação dos meios sociais de produção e distribuição de bens (produtos e serviços) por uma pequena minoria de rendários/lucratários/agiotários em colusão com os gestores dos seus “activos”; pelo trabalho assalariado da grande maioria da população por conta dessa minoria; pela tentativa amalucada (mas perseverante) desta classe socioeconómica de mercadorizar, além da força de trabalho, todos os demais recursos naturais finitos e confináveis (solo, subsolo, água doce, genoma humano 92, etc.) e os próprios gases com efeito de estufa (metamorfoseados em créditos de carbono quando se trata de dar respeitabilidade e lucratividade à sua emissão deliberada), de subordinar ao mercado quase todas as actividades humanas (ciência, arte, educação, ensino, medicina, farmacologia, desporto, etc.); e de produzir o máximo número de mercadorias vendíveis (incluindo armas de destruição maciça) com os menores custos monetários, mas sem contabilizar os seus efeitos danosos, sociais e ambientais, qualificados de “externalidades” (negativas) — vive em constante turbulência.
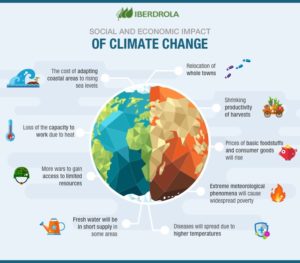
Depois de duas guerras mundiais que lhe permitiram revigorar-se, reconstruindo em novas bases o que fora destruído, entrou outra vez, a partir dos anos 1980, numa fase de turbulência onde se confronta de novo, diariamente, com o espectro da “estagnação secular” nos países industrialmente mais deenvolvidos (cf. secção 4 deste texto e a nota 37) que a globalização capitalista não consegue conjurar93. Os políticos e economistas que nos dizem que não se trata de “estagnação secular”, mas, tão-somente, de uma prolongada fase de contracção no ciclo real de negócios, da qual sairemos mais dia menos dia, não nos dizem quando nem como isso sucederá 94. Não podem fazê-lo, porque carecem de teorias científicas da economia e da política. Têm apenas os falsos postulados (tácitos e explícitos) da economia anticlássica, os seus modelos matemáticos fantasistas e as suas pseudoprevisões 95. Quanto à ideia de que as crises periódicas, com todo o seu cortejo de malefícios (com os despedimentos em catadupa e o aumento enorme do desemprego à cabeça), são algo de tão natural como a sucessão do dia e da noite, não convence senão os que querem ser convencidos.

Há sólidas razões para preferir o socialismo ao capitalismo e a democracia integral (a democracia, afinal de contas) à oligarquia electiva liberal 96. Mas temos de nos entender sobre o significado das palavras socialismo e democracia que sofreram tratos de polé às mãos dos seus detractores e dos seus falsos amigos. Comecemos por recordar uma distinção entre três esferas das actividades humanas que a auto-instituição explícita e reflexiva da sociedade deve simultaneamente delimitar e articular e onde se jogam as relações entre os indivíduos, a colectividade e o poder político — a esfera individual-privada (oikos), a esfera individual-pública (ágora) e a esfera colectiva-pública (politeia)97.
É uma distinção que remonta à Atenas do século V a.C., daí os nomes gregos. Na esfera individual-privada (oikos), a esfera da casa-família, lidamos com coisas, assuntos e actividades de âmbito pessoal e familiar: assuntos e coisas como consumo de água, gás e electricidade; abastecimento da despensa; móveis; electrodomésticos; computador pessoal; telemóvel; biblioteca pessoal; e actividades tais como cozinhar, comer, dormir, descansar, cuidar da higiene pessoal, brincar com os filhos, ler, manter a correspondência em dia, interagir com os vizinhos, namorar, conviver com amigos no recato da residência individual ou familiar. A esfera individual-privada é um domínio onde o poder político não deve intervir, salvo para melhorar as condições materiais de habitação dos indivíduos e das famílias, garantir a gratuitidade dos cuidados de saúde das famílias e da educação das crianças e dos jovens, e proteger a integridade corporal e liberdade das pessoas. Por exemplo, a Constituição da República Portuguesa (artigo 69º) protege as crianças contra o exercício abusivo da autoridade na família e o Código Penal português (artigos 152º e 152º-A) pune severamente a violência doméstica sob as suas diversas formas.
A esfera individual-pública (ágora) é o domínio em que os indivíduos se encontram e se reúnem para trabalhar em conjunto, debater, ensinar, aprender, jogar, competir, celebrar contratos, divertir-se, festejar e interagir uns com os outros de mil e uma maneiras. É na esfera da ágora que lidamos com aquilo que é compartilhável com os outros sem sacrificar a privacidade individual: com coisas como estradas, parques, instalações desportivas, lojas, teatros, empresas, escolas, universidades, hospitais, museus, autocarros, metropolitano, comboios, e com actividades como viajar de autocarro; trabalhar; falar e interagir com os vizinhos, os colegas de trabalho ou de escola; comprar géneros alimentícios; ir ao cinema; cavaquear com amigos num café; sentar-se a ler um jornal num parque municipal; fazer desporto, etc. Aqui, também, o poder político não deve intervir, salvo para proteger os direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, produtores e consumidores, incluindo a sua integridade corporal, e o meio-ambiente. Por exemplo, o Código Penal Português (artigos 143º─148º) pune quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa, e o decreto-lei nº 13/2016 estabelece os requisitos mínimos para a prevenção dos acidentes graves nas operações “offshore” [longe da orla costeira] de petróleo e gás e para a limitação das consequências desses acidentes. Na ágora estamos num espaço público, mas que é, ao mesmo tempo, um espaço aberto à livre iniciativa dos indivíduos, razão pela qual não pode (não deve) ser aí tomada nenhuma decisão política (executiva, legislativa ou jurisdicional) que privatize o que é público. Pelo contrário, as decisões políticas devem garantir a todos (e não é coisa pouca!) o acesso igualitário a esse espaço público, a liberdade individual nesse espaço público, e a segurança desse espaço público. Por exemplo, a democracia integral implica a propriedade social (cooperativa, comunitária ou pancomunitária), a coordenação e o controlo de gestão das empresas pelos trabalhadores-produtores — ou seja, a democracia socioeconómica.
A politeia é a esfera colectiva-pública, o domínio do poder político, do poder explícito, instituído como tal, com os seus dispositivos constitucionais próprios, com o seu funcionamento específico, com as suas sanções legítimas a que pode recorrer.98.Chamemos magistrados aos cidadãos encarregados de exercer temporariamente uma parcela desse poder num orgão distinto da assembleia soberana de todos os cidadãos (à qual chamei Assembleia Adsumus dos Cidadãos) 99.
Sabemos que o poder político explícito abrange três funções: governativa (impropriamente apelidada de executiva nas oligarquias electivas), legislativa e jurisdicional. A politeia inclui, portanto, as magistraturas vinculadas à função governativa, as magistraturas vinculadas à função legislativa, e as magistraturas ligadas à função jurisdicional. Numa sociedade democrática, os cidadãos encontram-se na esfera colectiva-pública como magistrados e é como magistrados que deliberam colectivamente para decidir sobre assuntos, obras e empreendimentos que dizem respeito ao bem comum de todos os cidadãos em todos os domínios (sociobiótico, socioambiental, socioeconómico, sociocultural, sociopolítico), sabendo que as decisões que tomam são susceptíveis de recurso qualificado a outras instâncias do poder político do colectivo de cidadãos e à sua eventual sanção.
O exercício individual e temporário de toda e qualquer magistratura (governativa, legislativa ou jurisdicional) é decidido por tiragem à sorte e/ou rotatividade de N cidadãos a partir do colectivo total de cidadãos. Todos os mandatos devem ser exercidos colegialmente, por períodos curtos e não consecutivos. As únicas derrogações a esta regra, a existirem, aplicam-se somente a casos muito específicos, quando o exercício de tal ou tal magistratura, requeira ou aconselhe a posse de uma competência técnica muito específica, de um saber-fazer pericial (p.ex., comandantes militares, técnicos oficiais de contas em funções de supervisão das despesas das diferentes magistraturas). Nesses casos, o sorteio é precedido de concurso público e avaliação técnica das competências específicas dos candidatos e o próprio sorteio (a partir da lista dos candidatos mais bem classificados) poderá ser substituído por uma eleição, se houver razões de peso para adoptar esse método aristocrático de selecção. Por outro lado, o desempenho dos candidatos seleccionados será avaliado no termo do seu mandato — sendo uma coisa e outra (a selecção a priori por concurso público e a avaliação a posteriori dos candidatos) efectuadas por um colégio de magistrados seleccionados por sorteio.
Em suma, numa democracia (numa democracia integral), o poder legislativo e o poder governativo 100 são exercidos, supremamente, pela Assembleia Adsumus dos Cidadãos, que agrega todos os cidadãos 101, coadjuvada por colégios de magistrados (como aquele que foi descrito no último parágrafo da secção 12) seleccionados por tiragem à sorte e/ou por rotatividade e sempre por períodos curtos não repetíveis. Em certos casos, em número muito restrito (como, por exemplo, os comandantes das forças armadas milicianas que substituirão as forças armadas profissionais), essa escolha dos magistrados pode ser feita por eleição ou por sorteio a partir de uma lista curta de candidatos seleccionados por concurso público.
O poder jurisdicional é exercido por tribunais constituídos por júris seleccionados por tiragem à sorte, a partir do colectivo dos cidadãos, para um processo judicial único e específico, coadjuvados por jurisconsultos (juristas profissionais) que lhes prestam assistência técnica, mas sem direito de voto, e que são também seleccionados por sorteio a partir de uma lista de candidatos habilitados. Outros juristas intervêm como advogados de defesa. Os processos judiciais em que uns (jurados) e outros (jurisconsultos) serão chamados a intervir e colaborar ser-lhes-ão distribuídos por sorteio.
Por isso, numa democracia integral não existe Estado, nem, por conseguinte, aparelho de Estado. Os serviços de polícia necessários à prevenção do crime, à protecção da integridade corporal e da tranquilidade dos indivíduos e à manutenção da segurança pública são prestados rotativamente por todos os cidadãos saudáveis (excepto os mais idosos [p.ex. os maiores de 50 anos], as mulheres grávidas, os que tenham as suas capacidades diminuídas, etc.) por um tempo de serviço curto (por exemplo, duas ou três semanas por ano) na sua zona de residência. As tarefas da polícia cidadã — incluindo as que, esporadicamente, aconselhem ou exijam o porte e o uso de armas como medida de autoprotecção ou para impedir um crime — são exercidas com base no respeito escrupuloso dos direitos, liberdades e garantias pessoais constitucionalmente reconhecidos; um respeito reforçado pela circunstância eminentemente favorável de os polícias serem cidadãos a cumprir temporariamente um dever cívico que incumbe a todos no interesse do bem-estar da comunidade e da sua existência, em vez de serem profissionais que são pagos para cumprir deveres que incumbem aos cidadãos, mas dos quais uma longa tradição antidemocrática procurou eximi-los. Os únicos profissionais da polícia cidadã serão os que forem admitidos por concurso público num corpo restrito de detectives e técnicos de áreas pertinentes (tecnologias forenses e criminalística, clínica e patologia forense, química e toxicologia forense, genética e biologia forense) especializados na investigação de crimes mais matreiros (em particular, crimes de sangue), mas aos quais será interdito o porte e o uso de armas, salvo em missões específicas de alto risco (como, por exemplo a detenção de criminosos armados), e sempre com o apoio e sob a supervisão da polícia cidadã.
Por último, e pelas mesmas razões, todos os cidadãos de boa saúde, de ambos os sexos, cumprem em regime de conscrição, a partir dos 18 anos, um serviço militar obrigatório como milicianos durante um curto período. Findo esse período, e já na situação de reservistas, todos os cidadãos têm a responsabilidade de guardar em suas casas o seu equipamento de milicianos, incluindo a sua arma e as respectivas munições, mantendo-as em bom estado e em lugar seguro, como acontece na Suíça. Os militares profissionais reduzir-se-ão a um núcleo restrito de instrutores, pessoal de manutenção e técnicos. A necessidade de conscrição e de cumprimento da tarefa cidadã de miliciano vigorará enquanto houver ataques ou ameaças de ataques de Estados hostis ou de organizações armadas privadas empenhados em derrubar a democracia pela força das armas. Quando esses ataques e essas ameaças cessarem, a conscrição e o serviço miliciano obrigatório deixarão também de ser necessários, as milícias serão dissolvidas, as armas de guerra serão destruídas e os seus protótipos relegados para o museu da guerra para educação das novas gerações.
É claro que não é assim que as coisas se passam nas oligarquias electivas contemporâneas (as impropriamente chamadas “democracias” representativas), incluindo a oligarquias liberais (as impropriamente chamadas “democracias” liberais). Os seus apoiantes, seja qual for o rótulo partidário com que se apresentem, estão todos de acordo num ponto crucial: é necessário limitar ao máximo ou reduzir ao mínimo inevitável a componente colectiva da esfera colectiva-pública. O povo não deve de modo nenhum autogovernar-se, exercer o poder político pelos seus próprios meios: Assembleia Adsumus dos Cidadãos e colégios de magistrados investidos de poder executivo, legislativo ou jurisdicional e sorteados (ou, nalguns poucos casos, eleitos) por mandatos curtos e não-acumuláveis. «Se isso acontecesse, seria o “caos”, a “anarquia”!», clamam os defensores das oligarquias liberais, deitando as mãos à cabeça.
As oligarquias electivas contemporâneas (tanto liberais como iliberais) podem, pois, ser definidas como a transformação da politeia, da esfera colectiva-pública, na esfera privada-pública de uns poucos (os chamados “representantes” eleitos do povo). Em contraste, a democracia integral também pode ser definida como a transformação da politeia (que, nos regimes oligárquico-liberais, é, de facto, semiprivada-pública, visto que está na posse de uma oligarquia [uma parte da qual é eleita e multipartidária], e não do colectivo dos cidadãos) numa esfera verdadeiramente colectiva-pública — verdadeiramente pública, porque pertence a todos, e verdadeiramente colectiva, porque está igualmente aberta à participação de todos.
Na verdade, as oligarquias electivas liberais contemporâneas (Reino Unido, Suécia, França, EUA, Portugal, etc.) partilham com as oligarquias electivas iliberais contemporâneas (Rússia, Turquia, Singapura, Hungria, Polónia, etc.), com as oligarquias [não electivas] autoritárias contemporâneas (China, Cuba, Tajiquistão, Sudão, Guiné Equatorial, etc.) e com as oligarquias [não electivas] totalitárias do passado e do presente (Rússia de Estaline, Alemanha de Hitler, Arábia Saudita, República Islâmica do Irão, etc.) este traço comum: a esfera colectiva-pública é, de facto, em todas elas e em maior ou menor medida consoante os casos, privada-pública. Por outras palavras, os assuntos, as obras e os empreendimentos que interessam ao colectivo dos cidadãos, são, nesses diferentes regimes políticos, a prerrogativa exclusiva ou quase exclusiva, o domínio privado ou semiprivado, do poder político de diversos tipos de oligoï: partidos, sociedades comerciais, camarilhas, facções, famílias, clãs, grupos militares, aparelhos clericais, etc.
Democracia integral e propriedade cooperativa
As empresas constituem o cerne do domínio institucional socioeconómico. São também uma componente fundamental da ágora, uma vez que é nelas que a maioria dos cidadãos das sociedades capitalistas industrialmente desenvolvidas e tecnologicamente avançadas passa uma parte muito grande do seu tempo diário e do seu tempo total de vida.
Porém, como vimos (secções 9, 10 e 12), as empresas são completamente dominadas por estruturas hierárquicas (as “sociedades comerciais,” com as suas respectivas “firmas”) em que uma oligarquia gestionária autocooptada (os chamados “corpos sociais” das “sociedades comerciais”) toma todas as decisões importantes. Os trabalhadores assalariados, que não fazem parte desses “corpos sociais”, limitam-se a obedecer às ordens e instruções que lhes são dadas, apesar de serem eles os elementos constituintes das empresas propriamente ditas. Assim, nas instituições onde a maioria dos cidadãos passa, no seu estado vígil, metade ou mais de metade do seu tempo diário, os cidadãos têm pouca ou nenhuma autonomia decisória sobre os seus destinos.
A democracia integral não é possível sem a extensão dos princípios da isonomia (igualdade de participação), da isopsêphia (igualdade de voto), da isegoria (liberdade de iniciativa) e da parrhesia (liberdade e franqueza de expressão) à esfera individual-pública da ágora, e, muito em particular, às empresas. Isso implica necessariamente a auto-instituição do sistema republicano e beneficente da associação dos produtores livres e iguais — ou seja, a conjugação da propriedade cooperativa das empresas e da sua gestão democrática e autónoma pelos produtores individuais que delas fazem parte e que são também o seus custódios, a saber, os trabalhadores que nelas trabalham. O mesmo se aplica, mutatis mutandis, às fundações multiface que se encarregarão da custódia legal e da gestão das condições gerais de produção e dos serviços colectivos de protecção e apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural das populações (cf. secções 11 e 12).
Uma república — não no sentido romano (Senatus populusque Romanus [o Senado e o povo de Roma]), mas no sentido ateniense do termo (politeia [a auto-instituição de uma comunidade política autogovernada]), diametralmente oposto — integralmente democrática decidirá da alocação anual e plurianual dos recursos globais da comunidade destinados à produção bens de produção, por um lado, e à produção de bens de consumo (produtos e serviços), por outro, e fá-lo-á de forma democrática, ou seja, com base num Registo Universal das Necessidades de consumo que os cidadãos indicarem terem a sua preferência e respeitando as suas indicações de voto quanto às prioridades que devem prevalecer na sua produção e distribuição.
Mais concretamente, as diferentes propostas (A, B, C, D, …) relativas aos objectivos prioritários (i) dos planos de produção de bens de produção e de bens de consumo e (ii) dos planos de fomento tecnológico, científico e cultural elaborados com vista a manter permanentemente actualizado um Catálogo Geral de Bens de Consumo Disponíveis que dê uma resposta concreta às necessidades de consumo identificadas no Registo Universal das Necessidades, assim como as diferentes propostas relativas ao montante e às percentagens do imposto progressivo sobre o rendimento do trabalho das pessoas singulares que deverá ser cobrado para fazer face às diferentes rubricas do orçamento necessário à prossecução desses objectivos — custos gerais de manutenção e renovação dos meios de produção necessários às empresas cooperativas + custos gerais dos serviços colectivos de protecção civil e de apoio ao bem-estar e ao desenvolvimento cultural da população + custos gerais das condições gerais de produção [barragens hidroeléctricas, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, redes de abastecimento de energia eléctrica, telecomunicações, etc.] + fundo de reserva — serão elaboradas e preliminarmente discutidas através de vários conselhos de magistrados tirados à sorte (como, p.ex., o Fórum da economia, da solidariedade social e da cultura, descrito na secção 12), auxiliado(s) por um dispositivo técnico (a “unidade técnica de planeamento, acompanhamento e monitorização da alocação dos recursos globais”). Essas diferentes propostas (A, B, C, D,…) serão depois sintetizadas e submetidas à aprovação da Assembleia Adsumus dos Cidadãos para vigorarem anualmente ou para vigorarem durante um determinado período plurianual (por exemplo, 3, 4 ou 5 anos).
Tecnologicamente, tanto a feitura do Registo Universal das Necessidades dos bens de consumo que os cidadãos identificarem como sendo os que têm a sua preferência na satisfação das suas aspirações pessoais, familiares e sociais, como a elaboração do Catálogo Geral de Bens de Consumo Disponíveis, como a aprovação, por sufrágio universal, das propostas de Orçamento Societário destinadas a concretizar esses desideratos são, hoje em dia, operações de índole perfeitamente exequível (fácil, fiável e segura) graças às novas tecnologias de informação102. Mais concretamente, todas essas operações podem ser realizadas por meio de um sistema integrado de computadores pessoais e telemóveis 2G, 3G, 4G (ou de geração superior), incluindo, portanto, o potencial combinado da Internet/W3 e da informática. Do mesmo modo, a Assembleia Adsumus dos Cidadãos pode tomar formas diferentes da reunião presencial de todos os cidadãos num único local, entre as quais a do RIC-CAL — o Referendo de Iniciativa Cidadã nos domínios Constitucional, Ab-rogativo e Legislativo — como já foi demonstrado, por exemplo, pelo sistema Handivote 103.
Pelas mesmas razões, tanto (i) a substituição do dinheiro como meio de remuneração do trabalho realizado por cada indivíduo por cartões electrónicos (pessoais e intransmissíveis) de pagamento utilizáveis na aquisição de todo o tipo de serviços e bens de consumo individuais, como (ii) o planeamento cibernético, informático, global e democrático da economia à escala nacional, continental e mundial — ambos, (i) e (ii), efectuados com base no cálculo do tempo de trabalho socialmente necessário à produção de todos os items constantes do Catálogo Geral de Bens de Consumo Disponíveis — são, hoje em dia, tarefas perfeitamente exequíveis, graças aos avanços tecnológicos corporizados pelos cartões electrónicos de débito (vulgo, cartões de multibanco), pelos códigos de barras (como, por exemplo, os dos sistemas EAN-UCC e QR), pela W3 (WWW) e pela computação avançada — incluindo o processamento distribuído, assim como a computação e o armazenamento de dados em “nuvem.” (Os pontos aflorados neste parágrafo e nos parágrafos anteriores serão desenvolvidos num texto ulterior).
Conclusão
Bem entendido, não cabe a nenhum indivíduo escrever sozinho a Constituição de uma politeia beneficente de produtores associados, livres e iguais que corporize os princípios de uma democracia integral. Um movimento que tente instituir uma tal politeia terá de ser uma obra colectiva de milhões, de dezenas e centenas de milhões de pessoas, e não poderá realizar-se sem um debate e um cotejo crítico de propostas oriundas de muitos cidadãos.
Sou um cidadão e é como tal que formulei aqui algumas das propostas para esse debate e para esse cotejo crítico. A justificação para o fazer é, creio, óbvia: salvo melhor informação, nunca foram feitas, por escrito e tendo a língua portuguesa como sua língua original de formulação, propostas semelhantes àquelas que foram aqui apresentadas, nem expostos argumentos semelhantes àqueles que aqui foram desenvolvidos para as elucidar. Pouco importa que essas propostas e esses argumentos possam parecer demasiadamente vagos para umas pessoas e demasiadamente pormenorizados para outras. O importante é que dissipem confusões paralisantes, que desfaçam mitos e mentiras com um historial de muitas décadas de êxitos retumbantes, que suscitem a reflexão e que contribuam para robustecer o movimento rumo à democracia integral naquelas pessoas que compreendem e sentem a necessidade de lhe dar força, emprestando-lhe a sua.
Lisboa. Terminado em 23 de Novembro de 2018. Revisto várias vezes, a última das quais em 12 de Dezembro de 2021.
Post-Scriptum
No texto Rumo à Democracia Integral usei muitas vezes os termos oligarquia electiva liberal (cf. nota 96), democracia integral (cf. secções 12, 16, 17, 18) e Assembleia Adsumus dos Cidadãos (cf. nota 101). Dado que os dois primeiros termos são inusitados e o terceiro fez aqui a sua estreia absoluta, convém fornecer aos leitores um suplemento de informação a respeito dos conceitos que eles exprimem.
Oligarquia electiva liberal é um conceito elaborado pelo filósofo Cornelius Castoriadis (1922-1997). Não é substituível pelo conceito de governo representativo, porque o “governo representativo” (entenda-se, o governo electivo) é apenas uma das facetas, embora muito importante, da configuração específica de poder político denominada oligarquia electiva liberal. A oligarquia liberal é um subtipo de oligarquia electiva. A vantagem mais evidente do uso de oligarquia electiva é a de nos permitir prescindir da expressão corrente “democracia representativa” e da expressão menos corrente “democracia eleitoral.”A vantagem mais evidente do uso de oligarquia electiva liberal é a de nos permitir prescindir da expressão corrente democracia liberal.
“Democracia representativa” é um oximoro, uma contradição nos termos. A ideia de “representação”, no sentido semiótico do termo que os escolásticos enunciaram através da fórmula aliquid stat pro aliquo (ou, à letra: “aquilo” (aliquid) “que está por” (stat pro) “aqueloutro” (aliquo), ou seja, «algo que está no lugar de outra coisa e que a substitui»), é incompatível com a de democracia. Na democracia cada cidadão representa-se a si próprio, no sentido etimológico do termo re-presentar (“tornar de novo presente”). Em democracia há delegação de tarefas, delegação do exercício individual desta ou daquela função do poder político (coisa diametralmente oposta à de “representação-substituição” do conjunto dos cidadãos por um corpo restrito de autoproclamados especialistas da política). Essa delegação de tarefas, que é entendida como uma divisão de tarefas no âmbito do poder político, é sempre de curta duração; é, por via de regra, atribuída de maneira aleatória e igualitária (tiragem à sorte e/ou rotatividade dos delegados); e é sempre escrutinável e revogável a qualquer momento pelos delegantes. Por isso, a ideia de representatividade, no sentido estatístico do termo — em que um subconjunto finito (denominado amostra representativa) torna presente as características do conjunto de onde foi extraído (denominado população ou universo estatístico) — é totalmente compatível com a de democracia, contrariamente ao que sucede com a ideia de representação, no sentido semiótico do termo.
“Democracia eleitoral” é outro oximoro. A ideia de escolha por eleição é uma concessão ao princípio da aristocracia e, por conseguinte, uma concessão ao princípio da oligarquia, o regime antagónico da democracia. Numa democracia, a eleição deve estar estritamente circunscrita àquelas (poucas) tarefas políticas específicas em que a escolha por sorteio e/ou por rotatividade com base no conjunto total dos cidadãos (ou com base no conjunto dos cidadãos que tenham previamente declarado a sua disponibilidade para o efeito) não é aconselhável — como poderá suceder, por exemplo, na escolha dos generais e almirantes das milícias armadas encarregadas de defesa de um país democrático, ou na escolha dos seus embaixadores. A generalização do princípio electivo (mutato nomine, do princípio aristocrático) a todas as tarefas políticas é incompatível com o princípio da isonomia que caracteriza a democracia.
Democracia integral é um termo sugerido pelo filósofo Mario Bunge. A democracia integral não se opõe à “democracia popular” (não existe tal coisa). A democracia é, por definição, o autogoverno do povo. Não precisa, por isso, de ser qualificada de “popular”. O que se designa imprópria e enganadoramente por “democracia popular” não tem um único referente experiencial ou denotatum, mas vários referentes experienciais: as oligarquias liberticidas totalitárias que existiram na União Soviética durante a maior parte do consulado de Estaline (1928-1953) e no Camboja durante o regime de Pol Pot (1975-1979) ou que existe no regime vigente na Coreia do Norte, e as oligarquias liberticidas autoritárias que existiram na Europa de Leste (Albânia, Alemanha oriental, Bulgária, Checoslováquia, Hungria, Polónia, Roménia) de 1948 a 1991, ou que existem, por exemplo, na China, no Laos e na Argélia.
A democracia integral não se opõe à “democracia representativa” (não existe tal coisa, como vimos). O que se designa imprópria e enganosamente por “democracia representativa”, corresponde, de facto, à oligarquia electiva, a qual tem como referentes experienciais quer as oligarquias electivas liberais que existem na Dinamarca, na Noruega, em Portugal, etc., quer as oligarquias electivas iliberais que existem na Rússia, na Turquia, na Hungria, na Polónia, em Angola, no Paquistão, nas Filipinas, etc. O que se designa imprópria e confusamente por “democracia burguesa” (cf. a citação de Rosa Luxemburgo na secção 1 deste texto) ou por “regimes demo-liberais” tem por único referente as oligarquias electivas liberais.
A democracia integral também não é sinónimo de “democracia proletária”. Este último termo é empregado no contexto do movimento trabalhista, tal como ele existe no quadro das sociedades capitalistas, onde designa, tão-somente, o respeito pelos princípios da democracia — isonomia (igualdade de participação), isopsêphia (igualdade de voto), isegoria (igualdade de iniciativa, por exemplo, na propositura de moções, resoluções, candidaturas, etc.) e parrhesia (liberdade e franqueza de expressão) — nas organizações dos trabalhadores assalariados (sindicatos, associações mutualistas, cooperativas de produção e de consumo, partidos políticos, etc.) contra práticas de corrupção, intimidação, arruaça e violência dos seus inimigos internos e externos. Mas há, de facto, uma estreita afinidade entre os conceitos de democracia e de proletariado. A democracia, em sentido lato, baseia-se no poder soberano da Assembleia Adsumus dos Cidadãos e na selecção por tiragem à sorte e rotatividade dos cidadãos chamados a participar nos diversos colégios de magistrados do poder legislativo, do poder executivo e do poder jurisdicional, assim como nos diversos conselhos de administração e gestão do aparelho produtivo e dos serviços públicos. Daí se segue a garantia automática de que todos esses orgãos serão numericamente dominados pelos trabalhadores assalariados (ou “proletários”, como também são designados) e que a sua composição será equilibrada em termos de sexo, idade, origem étnica, profissão, etc. Por essas razões, a democracia é, como vimos, o único regime político favorável à emancipação socioeconómica dos trabalhadores assalariados como obra dos próprios trabalhadores.
A democracia só pode existir em duas versões: uma parcial e outra integral. A democracia integral consiste na extensão dos princípios e dos métodos da democracia no domínio sociopolítico (historicamente o seu primeiro domínio) a todos os demais domínios institucionais legítimos do poder explícito: o domínio socioeconómico, o domínio sociocultural, o domínio sociobiótico, o domínio socioambiental. A democracia parcial consiste no confinamento dos princípios e dos métodos da democracia a um único desses domínios institucionais, ou na sua aplicação perfunctória num ou em mais de um deles. A democracia ateniense dos séculos V e IV a.C. era uma democracia parcial, confinada a alguns aspectos dos domínios sociopolítico, socioeconómico e sociocultural. A democracia integral não existe em parte nenhuma, embora se possa argumentar, como aqui foi feito, que a sua instituição traria grandes benefícios para a humanidade e dissiparia muitas nuvens negras que se acastelam no seu horizonte actual.
Uma coisa é certa: se a democracia integral vier a existir, a sua instituição só poderá ser obra, nas suas primeiras e decisivas fases, dos cidadãos dos países capitalistas industrial e tecnologicamente mais avançados — de uma grande parte da Europa (em particular os países que fazem hoje parte da UE, a Noruega e a Suíça), de uma grande parte de Rússia (em particular as repúblicas, óblasts e krays da sua parte europeia), da América do Norte, de uma grande parte da Ásia (Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan), e de uma grande parte da Australásia (Austrália, Nova Zelândia) — porque necessita, para poder vingar, de um aparelho produtivo e de uma população com certas características que não se encontram noutros países (aprofundarei este ponto num texto a escrever ulteriormente e a que farei de novo alusão mais adiante).
Assembleia Adsumus dos Cidadãos é uma expressão da minha lavra. O seu referente histórico mais conhecido é a Ekklêsia ateniense dos séculos V e IV a.C. Uma assembleia adsumus dos cidadãos constitui uma realidade diametralmente oposta à dos parlamentos. Um parlamento é uma assembleia onde têm assento cidadãos (em pequeno número) que são “representantes” eleitos por uma parte ou pelo conjunto dos cidadãos dum país. Uma assembleia adsumus dos cidadãos é uma assembleia onde têm assento todos os cidadãos de um país. Um parlamento é uma assembleia detentora do poder legislativo ou, pelo menos, de uma parcela dele. Uma assembleia adsumus dos cidadãos é uma assembleia detentora do poder legislativo e do poder governativo, ou, pelo menos, de uma parcela dele. Não existe nada que se assemelhe a uma assembleia adsumus dos cidadãos em parte nenhuma, mesmo na mais liberal das oligarquias liberais contemporâneas — a nível nacional, entenda-se. Essa é a razão pela qual este tipo de assembleia carece de uma denominação específica em muitos idiomas contemporâneos, entre os quais o português. (A palavra plenário serviria, se não tivesse sido apropriada para denominar a reunião magna de órgãos e assembleias de composição selectiva). A expressão assembleia adsumus dos cidadãos, ou assembleia cidadã adsumus, que é facilmente traduzível noutras línguas, vem colmatar esta lacuna do léxico político. Uma assembleia adsumus dos cidadãos é hoje uma figura institucional perfeitamente exequível por meio das tecnologias dos telemóveis 4G, da Internet, da WWW e da radiotelevisão.
Vem a talhe de foice assinalar aqui a existência, nalguns países, a nível municipal, de assembleias adsumus dos cidadãos cuja origem remonta a uma época em que não havia ainda aparelho de Estado nesses países. É o que sucede, ainda hoje, nalguns municípios de alguns cantões da Confederação Suíça, geralmente cantões de língua alemã, e em pequenas cidades de alguns Estados dos E.U.A., geralmente cidades da Nova Inglaterra.
Por exemplo, em metade dos 30 municípios com mais de 10.000 habitantes do cantão de Zurique, na Suíça, as decisões sobre problemas locais são tomadas em assembleias adsumus dos munícipes, chamadas “assembleias comunais”, “assembleias cantonais” ou “assembleias populares” (landgemeinden). No total, estima-se que ocorram 4.000 reuniões dessas assembleias por ano na Suíça, com a participação de cerca de 300.000 pessoas (André Ladner, “As assembleias populares ainda são atuais”? 20 de Outubro de 2016. Plataforma de democracia directa da swissinfo.ch).


Encontramos uma realidade semelhante na open town meeting form of government (que podemos traduzir livremente por “forma de governo por meio de uma assembleia municipal irrestrita”) que vigora em muitas pequenas cidades de Massachusetts e também, em menor medida, em pequenas cidades de outros Estados da Nova Inglaterra (Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut), nos EUA.
Por exemplo, na cidade de Marblehead (19.000 habitantes), do Estado de Massachusetts, todos os assuntos municipais, incluindo impostos locais, são decididos em assembleias adsumus dos munícipes chamadas open town meetings. A ordem de trabalhos (“warrant”) é dividida em tópicos para deliberação (“articles”), os quais são usualmente decididos por maioria simples e voto por braço no ar. Os “articles” podem ser apresentados por qualquer cidadão inscrito que obtenha a assinatura de 10 outros, ou pelos pelouros do município, ou pelos vereadores eleitos (“selectmen”).

O open town meeting de Marblehead tem lugar anualmente às 19h da primeira segunda-feira de Maio — no Inverno e na Primavera as pessoas jantam habitualmente às 17h.30/18h — , e continua nas noites seguintes até esgotar a ordem de trabalhos: orçamentos dos diferentes pelouros municipais; aquisição de equipamento; contratação de novo pessoal; mudanças nos regulamentos camarários; compra, venda ou arrendamento de propriedade para financiar projectos, etc.
A assembleia elege anualmente um town moderator (moderador) que preside às sessões. O quórum mínimo de um open town meeting em Marblehead é de 300 pessoas. Em Massachusetts esse quórum varia de cidade para cidade em função de factores como tradição, população da cidade, lotação dos edifícios onde se realizam os open town meetings. Podem ser convocados special town meetings (assembleias extraordinárias) em qualquer altura durante o ano, geralmente para deliberar sobre contratos de trabalho de empregados municipais ou despesas urgentes extraordinárias (https://www.marblehead.org/town-meeting).

Isto traz-me directamente ao último ponto deste post-scriptum. Não tenho qualquer dúvida que as objecções principais ao texto Rumo à Democracia Integral girarão em torno do seguinte argumento: “A democracia foi possível numa sociedade simples e pequena, como era a Atenas dos séculos V e IV a.C. Mas é completamente inviável em sociedades complexas de milhões de pessoas, como as sociedades capitalistas tecnologicamente avançadas do século XXI”. É uma objecção que tem barbas, visto que começou, de facto, com Montesquieu e, mais assertivamente, com Rousseau. Responderei a essa e outras objecções num texto a publicar oportunamente (título provisório: Refutação das objecções à democracia integral). Não me parece que seja uma tarefa muito difícil.
Dificílima e melindrosa é, isso sim, a discussão sobre os meios a empregar para superar a enorme resistência e para neutralizar as tremendas contramedidas que os detractores e inimigos jurados da democracia integral desencadearão, presumo, para impedir a sua instituição, a partir do momento em que se lhes afigure que ela adquiriu, ou pode adquirir, um forte agenciamento popular. Esse será o objecto de um terceiro texto a publicar oportunamente (título provisório: Obstáculos à democracia integral).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 [*] José Manuel Catarino Soares é um linguista português que vive em Lisboa, Portugal. É doutorado em linguística pela Université Sorbonne Nouvelle, Paris. Ensinou e investigou durante quase três décadas no ensino superior politécnico, em Portugal, onde era professor coordenador. Antes de se dedicar à linguística, a sua área principal e predilecta de investigação, ensinou sociologia, área onde também é formado. Hoje é um investigador independente.
[*] José Manuel Catarino Soares é um linguista português que vive em Lisboa, Portugal. É doutorado em linguística pela Université Sorbonne Nouvelle, Paris. Ensinou e investigou durante quase três décadas no ensino superior politécnico, em Portugal, onde era professor coordenador. Antes de se dedicar à linguística, a sua área principal e predilecta de investigação, ensinou sociologia, área onde também é formado. Hoje é um investigador independente.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Esta concepção não saiu pronta da cabeça de um pensador genial, como Atena saiu, adulta e plenamente armada, da cabeça de Zeus. Foi, isso sim, uma concepção que nasceu do confronto com o capitalismo industrial (da 1ª e 2ª revolução industrial) e que foi sendo decantada dos seus resquícios místicos, supersticiosos, autoritários e sectários por William Thompson (1755-1833), William Godwin (1756-1836), Robert Owen (1771-1858), Philippe Joseph Benjamin Buchez (1796-1865), John Gray (1799-1883), Johann Karl Rodbertus (1805-1875), John Francis Bray (1809-1897), Louis Blanc (1811-1882), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895), Louis Eugène Varlin (1839-1871), August Bebel (1840-1913), Edward Bellamy (1850-1898), Daniel DeLeon (1852-1914), Eugene V. Debs (1855-1926), Jan Wacław Makhaïski (1866-1926), James Connolly (1868-1916), Johann Rudolf Rocker (1873-1958), William Morton (1884-1958), Vladimir Mikhailovich Smnirnov (1887-1937), Jean Appel (1890-1985), Diego Abad de Santillán (1897–1983), entre outros. Os quinze primeiros (com a excepção, porventura, do admirável Eugène Varlin) são sobejamente conhecidos. Os sete últimos são-no muito menos, embora um deles (Connolly) tivesse alcançado uma certa celebridade na sua época, mais pelos seus feitos práticos do que pelos seus escritos. Merecem, por isso, que se diga aqui uma palavra a seu respeito. Makhaïski, Connolly, Morton , Smirnov e Appel reclamavam-se dos ensinamentos de K. Marx e F. Engels, os analistas críticos mais abrangentes e sagazes do capitalismo no século XIX; Rocker e Santillán eram pensadores anarquistas originais. Mas o que verdadeiramente os distingue é o facto de terem desenvolvido de maneira criativa a concepção do socialismo/comunismo aplicando-a ao contexto dos países ou regiões capitalistas industrialmente mais avançados do mundo nas primeiras décadas do século XX: o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda (Connolly e Morton), os EUA (Connolly), a Alemanha e a Holanda (Rocker e Appel), a Catalunha (Santillán), e ao próprio movimento trabalhista social-democrata inspirado pelas ideias de Marx e Engels na Polónia e na Rússia (Makhaïski, Smirnov). Em minha opinião, Connolly, que desenvolveu a sua actividade tanto no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda (nomeadamente na Escócia e na Irlanda) como nos EUA, foi, dos quatro, o mais audacioso no plano político; Makhaïski, Smirnov e Appel os mais sagazes no plano da economia política do socialismo/comunismo
- De 21 de Março de 1921 a 1928 vigorou na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) uma linha de rumo denominada Nova Política Económica (N.E.P no acrónimo russo). Caracterizou-se por uma mescla de (i) dirigismo governamental centralizado no domínio da banca, do comércio externo e da grande indústria nacionalizada (carvão, petróleo, metalurgia, electricidade, etc.), com (ii) concessões ao capital estrangeiro (arrendamento de empresas de propriedade nacional, exploração de recursos naturais, construção de fábricas de raíz); (iii) utilização dos ex-industriais e comerciantes capitalistas, bem como gestores (administradores económicos e especialistas técnicos) treinados em métodos capitalistas de gestão e organização, e (iv) incentivos ao capitalismo agrícola. Ver Alan M. Ball, Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921-1929. Oakland, CA: University of California Press, 1990
- O livro citado de Rudolf Rocker é Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice (London: Secker & Warburg, 1938). Foi reeditado pela Pluto Press, de Londres, em 1989. Convém acrescentar o seguinte. A sociedade socialista preconizada pelos anarquistas é uma sociedade não só sem Estado, mas também capaz de funcionar próspera e pacificamente sem o recurso a qualquer forma de poder político, de poder explícito. Que uma sociedade socialista pós-capitalista tenha de ser, necessariamente, uma sociedade não só sem Estado, mas também sem lugar para nenhuma forma de poder político ilegítimo e injustificado, parece(-me) ser óbvio. Coisa bem diferente é saber se uma sociedade pode funcionar sem instituições explícitas de poder (ainda que) legítimo — isto é, cuja legitimidade tenha sido devidamente justificada — como sustentam muitos anarquistas. A minha resposta é negativa, mas o problema não pode ser discutido aqui.
- Tais como, por exemplo, Piotr Kropotkin (1840-1921), Karl Kautsky (1854-1938), Julius Martov (1863-1923), Herman Gorter (1864-1927), Jan Wacław Makhaïski (1866-1926), Emma Goldman (1869-1940), Alexander Berkman (1870-1936), Rosa Luxemburgo (1871-1919), Bertrand Russell (1872-1970), Rudolf Rocker (1873-1958), Antonie (Anton) Pannekoek (1873-1960), Otto Rühle (1874-1943), Vsevolod Mikhailovich Eikhenbaum (1882-1945), mais conhecido como Voline; Sylvia Pankhurst (1882-1960), Otto Maschl (1898–1973), mais conhecido como Lucien Laurat; Gavril Ilyitch Miasnikov (1889-1945), Amadeo Bordiga (1889-1970), Victor Lvovich Kibalchich (1890-1947), mais conhecido como Victor Serge; Pierre Pascal (1890-1983), Jan Appel (1890-1985), Nicolas Ivanovitch Lazarevitch (1895-1975), mais conhecido como Georges Nicolas; Boris Souvarine (1895-1984), Ante Ciliga (1898-1992), Robert Guiheneuf (1899-1986), mais conhecido como Yvon; C.R.L. James (1901-1989), Paul Mattick (1904-1981), Lev Landau (1908-1968), Simone Weil (1909-1943).
- O Partido Trabalhista Social-Democrata Russo (PTSDR), fundado em 1898, dividiu-se, em 1903, em duas facções: uma chefiada por Julius Martov, maioritária, e outra, minoritária, chefiada por Vladimir Ilyitch Oulyanov, mais conhecido por Lenine. A partir de 1912, as divergências entre as duas facções tornaram-se irreconciliáveis. Daí em diante, constituirão partidos distintos. Ambas os partidos continuaram, no entanto, a reclamar-se e a usar o nome original do partido, PTSDR. Para se distinguir da facção de Martov, a facção de Lenine, passa a autodenominar-se PTSDR (bolchevique) e a denominar menchevique a facção de Martov. Os termos bolchevique (= “maioritário” em Russo) e menchevique (= “minoritário” em Russo) são enganadores neste contexto, porque provêm de um voto efectuado no congresso de 1903 do PTSDR a respeito de questões de organização e estratégia, em que a facção de Lenine ficou em maioria. Na verdade, a facção dita “bolchevique” de Lenine do PTSDR foi quase sempre minoritária, em número de militantes e de simpatizantes, antes e depois de 1912, relativamente à facção dita “menchevique.” Esta situação só se inverteu em Outubro de 1917 (no antigo calendário gregoriano) ou Novembro de 1917 (no moderno calendário juliano). A facção de Lenine do PTSDR passou então, de facto, a ser maioritária (“bolchevique”) tanto em número de militantes (muitos deles oriundos da facção “menchevique” do PTSDR e da facção de Trotsky, que se tinha até então mantido independente das duas facções principais da social-democracia russa desde 1905), como em número de simpatizantes, tal como ficou atestado pelo facto de a maioria (60%) dos deputados eleitos para o 2º Congresso Pan-Russo dos Sovietes, realizado em 7-9 de Novembro de 1917 (25-27 de Outubro no calendário gregoriano), se terem declarado “bolcheviques”. Em Março de 1918, por sugestão de Lenine, o PTSDR (bolchevique) muda o seu nome para Partido Comunista (bolchevique) da Rússia (PC-b-R). Em Dezembro de 1925, dois anos depois da morte de Lenine, o PC-b- R altera o seu nome para Partido Comunista (bolchevique) da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (PC-b-URSS). De 1928 a 1938, Estaline e a sua súcia no PC-b-URSS, destroem sistematicamente, por dentro, o que resta do “velho” PTSDR-b e do “transiente” PC-b-R no novel PC-b-URSS, através da expulsão, da deportação, da prisão e do assassinato em massa da maioria dos membros das suas comissões políticas, dos seus comités centrais e das suas estruturas intermédias, acompanhados pela renovação selectiva dos seus militantes de base. Em Agosto de 1952, o PC-b-URSS, avatar de Estaline e da sua oligarquia burocrática dirigente, com 24 anos de provas dadas de obediência canina ao seu chefe máximo, decide, por vontade deste, mudar o seu nome para Partido Comunista da União Soviética (PCUS). Em Novembro de 1991, Boris Yeltsine, um membro proeminente do comité central do PCUS, entretanto alcandorado a presidente da Federação Russa da URSS e rendido ao estilo de vida e aos privilégios da plutocracia americana e do seu pessoal político, dissolve o PCUS, depois de ter previamente suspendido a sua actividade e confiscado os seus bens.
- Cf. Alexander Rabinowitch. The Bolcheviks in Power. The First Year of Soviet Rule in Petrograd. Bloomington and Indiana: Indiana University Press, 2007, p. 294 e segs.
- Rosa Luxemburgo (1918), A Revolução Russa. Texto publicado pela 1ª vez em 1922, por Paul Levi. Minha tradução a partir da versão inglesa.
- Otto Rühle e Karl Liebknetch foram os únicos deputados do grupo parlamentar do SPD (Partido Social-democrata Alemão) a votar, na primavera de 1915, durante a 1ª guerra mundial, contra o orçamento do governo do imperador alemão para financiar a guerra. Essa posição valer-lhes-á a expulsão do grupo parlamentar do SPD que contava então com 110 deputados e era o maior do parlamento alemão. Em 1916, Rühle fundará, juntamente com outros ex-dirigentes do SPD (Karl Liebknetch, Rosa Luxemburgo e Franz Mehring), o grupo Internationale e, depois, a Liga Espártaco. A Liga Espártaco participará na formação, em 1917, do USPD (Partido Social-democrata Alemão Independente) e na formação, em 1918, do KPD (Partido Comunista Alemão). Após o assassinato dos principais dirigentes do KPD (Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Leo Jogiches) no primeiro trimestre de 1919 — assassinato executado por ordem do governo do SPD, em particular do seu ministro da defesa, Gustave Noske — o KPD excluiu, em Outubro de 1919, a sua ala “conselhista” (= adepta dos “conselhos de trabalhadores” encarados como sendo a forma institucional mais avançada da auto-organização dos trabalhadores assalariados) da qual fazia parte Rühle, apodando-a de “esquerdista” (leia-se: não leninista).
- O. Rühle, “Moscovo e Nós Próprios.” Die Aktion, Volume 10, nº 37/38, 18 de Setembro de 1920. Minha tradução a partir da versão inglesa
- B. Russell. The Practice and Theory of Bolschevism. Woking and London: Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, 1920
- Em 1924, Boris Souvarine foi expulso por “indisciplina” do Partido Comunista Francês e da Internacional Comunista, também conhecida como 3ª Internacional (era dirigente de ambas as organizações desde a sua fundação), depois de ter declarado repetidamente: «Há algo de podre no Partido e na Internacional!» e de ter agido em conformidade para o mostrar.
- B. Souvarine, “Aveux à Moscou” [Confissões em Moscovo], artigo de 10 de Abril de 1938, republicado em À Contre-Courant. Écrits:1925-1939. Paris: Denoël.1985. Minha tradução. N.E. = nota editorial
- Cyril Leonel Robert James (mais conhecido por C.L.R. James) foi um jornalista, historiador, romancista, dramaturgo e militante político originário da colónia britânica de Trindade e Tabago nas Antilhas. Nasceu no seio de uma família da primeira geração de antilhanos a viver em liberdade depois da abolição da escravidão. Viveu a maior parte da sua vida adulta na Inglaterra e nos EUA, onde se distinguiu pelo seu incansável activismo político em prol da emancipação dos trabalhadores como obra dos próprios trabalhadores, dos direitos civis dos americanos descendentes dos ex-escravos que foram levados à força de África para os EUA, e da independência política dos povos dos territórios da África, da América do Sul e da Ásia que eram governados por potências imperialistas (Reino Unido, França, Portugal, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha, Alemanha, Japão, EUA).
- C.L.R. James. “The Second Moscow Trial”. Fight, Volume 2, Nº 5, Abril, 1937, pp. 6-9. Minha tradução.
- nova edição, Paris : Les Éditions Gérard Lebovici, 1985, 640 pp.
- Os três primeiros artigos foram republicados no livro Cauchemar en URSS [Pesadelo na URSS] Marseille: Agone, 2001; coédition Comeau & Nadeau Éditeurs.
- Ver Pavel Sudoplatov e Anatoli Sudoplatov. Operações Especiais. Lisboa: Publicações Europa-América, 1994
- Paris: Éditions Gasset, 1937.
- Reeditado em 1977, pelas Éditions Champ Libre, Paris
- Um dos testemunhos de Ante Ciliga foi a notícia da resistência, nas prisões de Estaline por onde passou, dos sobreviventes do Rabotchaïa Gruppa (= Grupo dos Trabalhadores [GDT]), e o relato inédito das suas posições. O GDT era uma tendência minoritária do partido bolchevique que, desde 1922, fez sua a divisa que a 1ª Internacional adoptou por sugestão de Karl Marx: “A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”. Para o GDT — cujos membros mais conhecidos eram os “velhos” bolcheviques [isto é, membros de longa data do PTSDR, antes da sua transformação em PC-b-R] G. Miasnikov, P.B. Moiseev e N.V. Kuznetsov, todos trabalhadores metalúrgicos — isso significava pôr em prática na URSS um programa semelhante ao que Rosa Luxemburgo enunciara em 1918, incluindo a liberdade de reunião, de manifestação e de imprensa; a gestão democrática das empresas pelos seus trabalhadores; a abolição do monopólio do poder político do partido bolchevique; a garantia do pluralismo partidário nos sovietes; a eleição de novos sovietes baseados nas fábricas.
- B. Souvarine. Le Contrat Social, volume IX, n° 5, Setembro 1965, p. 272. Minha tradução
- Antonie (Anton) Pannekoek foi um astrofísico holandês que se notabilizou como astrónomo. Por essa razão, o seu nome foi dado postumamente ao Instituto de Astronomia da Universidade de Amsterdão. Notabilizou-se também como militante político pela sua intransigente defesa da divisa da 1ª Internacional nas condições muito difíceis dos anos da primeira guerra mundial, do período entre as duas guerras mundiais e dos anos da segunda guerra mundial que lhe coube em sorte viver durante a maior parte da sua vida adulta. As suas obras políticas principais são, em minha opinião, Lenine como Filósofo (1938) e Os Conselhos de Trabalhadores (1947). Em ambas, Pannekoek mostra-nos a profunda contradição entre as ideias de Marx e as ideias de Lenine sobre o socialismo, e tudo o que separa a emancipação dos trabalhadores como obra dos próprios trabalhadores da teoria e prática do chamado leninismo.
- . O termo “capitalismo de Estado” tem o inconveniente de ser polissémico. Diferentes autores dão-lhe um conteúdo conceptual diferente ou muito diferente (e.g. .Karl Marx, Friedrich Engels, Nicolai Boukharin, Lenine, Trotsky, Lucien Laurat, Paul Mattick, Anton Pannekoek, Rudolf Hilferding, Friedrich Pollock, Raya Dunayevskaya, Amadeo Bordiga, Tony Cliff, Ernest Mandel, Adam Buick & W.Jerome, João Bernardo, Noam Chomsky). Para determinarmos com rigor a natureza específica da ex-URSS no período que vai, grosso modo, de 1932 (data do término do 1.º plano quinquenal) até 1985 (data da chegada ao poder supremo de Mikhail Gorbachev), julgo ser necessário introduzir dois conceitos novos: o de quimerismo sociogenético ou quimera social e o de colectivismo oligárquico (o termo é de George Orwell) ou modo pseudo-socialista de produção. Na mitologia grega, a quimera era uma criatura fantástica, geralmente representada com um corpo híbrido entre leão, cabra e serpente ou dragão. Por quimerismo sociogenético e quimera social entendo designar, respectivamente, a formação (processo diacrónico) e a existência concreta (como seu resultado sincrónico), no âmbito de uma mesma sociedade, de uma combinação de elementos heterogéneos pertencentes a modos de produção distintos e mutuamente antagónicos com formas de poder de Estado compatíveis unicamente com um deles. Por colectivismo oligárquico ou modo pseudo-socialista de produção entendo designar um regime de produção com as seguintes características: 1. A ausência de uma classe de grandes proprietários fundiários e de uma classe de capitalistas privados na indústria, na agricultura, no comércio e nos serviços. 2. A existência de uma classe de governantes inamovíveis que monopoliza o poder de determinar a alocação dos meios sociais de produção e a repartição do sobreproduto social produzido pelas classes trabalhadoras governadas. 3. A alocação dos meios sociais de produção de bens e serviços e do sobreproduto social por meio de um sistema de directivas políticas emanadas da classe governante. 4. A consequente ausência de mercados de bens de produção e de matérias primas. 5. A existência de um mercado de bens de consumo sujeito a constrangimentos tais que: a) uma parte considerável dos bens de consumo seja distribuída por meios que não sejam a compra e venda monetárias; b) o mecanismo de preços do mercado de bens de consumo seja geralmente neutralizado por meio de preços monetários de equilíbrio. 6. A ausência de um mercado da terra e a ausência da categoria de renda fundiária como categoria económica. 7. A existência de dinheiro como unidade de conta e meio de compra circulante e de trabalho assalariado. 8. Uma variância de rendimentos em relação à média que seja menor do que a dos países capitalistas com um nível de desenvolvimento industrial equivalente. 9. Um modo de extracção do sobreproduto distinto do que é apanágio do modo capitalista de produção, a saber: a divisão politicamente determinada do produto social entre as categorias de consumo corrente, fundo de acumulação e investimento e consumo improdutivo. 10. A conversão do imposto como meio de extracção de um sobreproduto num meio de assegurar a estabilidade monetária. 11. A ausência de um contingente permanente de desempregados (de um “exército industrial de reserva”, na terminologia de Marx), frequentemente associada com um excesso de trabalhadores nuns sectores e a sua escassez noutros sectores. Assim sendo, a URSS (no período que vai de 1932 a 1985) era uma quimera social, um regime híbrido, que combinava um modo pseudo-socialista de produção com uma oligarquia totalitária — uma classe tecnoburocrática (partidária e estatal) de gestores, plenipotenciária, liberticida e antidemocrática, personificadora dos poderes outrora cometidos às classes possidentes (grandes proprietários fundiários e capitalistas) — a qual utilizava fraudulentamente as palavras “socialismo” e “comunismo” como um alibi para legitimar o seu poder perante a classe proletária.
- A. Pannekoek, “Why past revolutionary movements have failed”. Living Marxism. Vol.5, nº 2, Fall 1940. Minha tradução.
- O tokamak é um reactor delineado para produzir energia de fusão termonuclear. Dentro de um tokamak, a energia produzida através da fusão de núcleos atómicos de isótopos do hidrogénio (como o trítio e o deutério) é absorvida como o calor nas parede de um vaso. Tal como sucede numa central de energia tradicional, uma central de energia de fusão usará esse calor para produzir vapor de água e depois electricidade por meio de turbinas e geradores. O cerne do tokamak é a sua câmara de vácuo com a forma de uma rosca frita ou de uma câmara de ar de um pneu (uma forma conhecida como toro ou toróide em topologia). Dentro do tokamak, sob a influência do calor e da pressão elevadíssimos, o combustível de hidrogénio gasoso transforma-se em plasma — o meio-ambiente no qual os átomos de hidrogénio são levados a fundir-se e a libertar energia. As partículas carregadas do plasma podem ser moldadas e controladas por gigantescas bobinas magnéticas colocadas à volta da câmara de vácuo. É daí que vem o termo tokamak, um acrónimo russo de uma expressão que significa “câmara toroidal com bobinas magnéticas”. O tokamak foi originalmente concebido e desenvolvido na ex-URSS nos anos 1950, pelos físicos Oleg Alexandrovich Lavrentiev, Igor Yevgenyevich Tamm (galardoado com o prémio Nobel da Física em 1958), Andrei Dmitrievich Sakharov (galardoado como prémio Nobel da Paz em 1975) e Natan Aronovich Yavlinsky (o construtor do primeiro tokamak, em 1958). Foi considerado desde então, no mundo inteiro, como a configuração magnética mais promissora de um reactor de fusão. A fusão nuclear como modo de produção de energia tem duas grandes vantagens sobre a fissão nuclear e nenhuma das suas desvantagens. 1ª) Um dos combustíveis da fusão é, como foi dito, o deutério, uma variedade de hidrogénio que se encontra em quantidade praticamente inesgotável nos oceanos. 2ª) a fusão converte deutério em hélio, uma substância inofensiva. Embora a fissão nuclear e a fusão nuclear sejam ambas radioactivas, a fusão nuclear não cria o perigoso lixo atómico da fissão nuclear. Outra grande vantagem: se qualquer coisa correr mal, o processo de fusão pára imediatamente. É praticamente impossível o reactor tokamak sair fora do controlo e provocar um acidente grave, como já aconteceu (Chernobyl, Fukushima) nas centrais que operam por fissão nuclear, as quais também foram muito aperfeiçoadas desde então, de modo a evitar acidentes semelhantes ou outros concebíveis. O ITER (simultaneamente acrónimo inglês de International Thermonuclear Experimental Reactor [Reactor experimental termonuclear internacional] e palavra latina que significa “jornada, passagem, caminho”, será o maior tokamak construído até à data.
- . Não foi só isto o que aconteceu, bem entendido. Ao desmantelamento da planificação centralizada da economia e à desintegração concomitante do regime de colectivismo oligárquico da URSS na era de Gorbachev, seguiram-se, na era de Yeltsin, a implantação do capitalismo oligárquico neoliberal e globalizado na Federação Russa ou Rússia (a entidade política que sucedeu à URSS), da qual resultou um colapso da sua estrutura económica e social — um colapso sem precedentes à escala mundial em tempos de paz e na ausência de catástrofes naturais (como, por exemplo, terramotos, erupções vulcânicas ou pandemias). A Rússia, que é o maior país do planeta e que era a segunda superpotência mundial no tempo da URSS, foi reduzida, num ápice, ao estatuto de um país endividado e pobre, com um tremendo declínio na produção industrial e do nível de vida da população (cf. Gerardo Bracho C. e Julio López G., “The economic collapse of Russia”, BNL Quarterly Review, nº 232, March 2005, vol. LVIII, pp. 53-89. 2005). Por exemplo, entre 1990 e 1995 o Produto Interno da Rússia caiu 42% (!!) e os salários baixaram 56,5% (!!). As indústrias mais importantes foram apropriadas por uma oligarquia de patifes de alto coturno do crime organizado (a chamada Mafia russa) em colusão com os membros mais venais da “nomenclatura” do PCUS (Partido Comunista da União Soviética), em particular os gestores (administradores e dirigentes sindicais) das empresas. Por outras palavras, a passagem de uma economia pseudo-socialista (ou seja, estatizada e burocraticamente planificada por uma oligarquia de gestores) a uma economia capitalista entregue às chamadas “forças do mercado”, abertamente comandada por uma oligarquia de capitalistas privados e gestores, não representou nem um avanço industrial e tecnológico, nem uma melhoria das condições materiais e morais de vida da maioria da população. Pelo contrário, representou um desastre industrial e económico e um enorme retrocesso socioeconómico e sociocultural. Voltaremos a este assunto na secção 4, nota 37.
- Cf. Raj Patel e Jason W. Moore, História do Mundo em Sete Coisas Baratas. Lisboa: Editorial Presença, 2018, p.14.
- A transformação da China de um país industrial e tecnologicamente atrasado num país industrial e tecnologicamente é processo tão rápido e tão tortuoso que não poderia deixar de suscitar análises díspares. Simplificadamente, as opiniões dividem-se em dois grupos principais. 1) O grupo dos que pensam que a China está num processo de transição, mais ou menos avançado, do socialismo (ou do comunismo) para o capitalismo (e.g. Dic Lo & Yu Zhang, “Making sense of China’s economic transformation” (2011), Review of Radical Political Economics, Volume 43, issue 1, page(s): 33-55, March 1; Chris Bramall, Chinese Economic Development. London and New York: Routledge, 2009; Wei Zhao & Frank La Pira, “Chinese Entrepreneurship: Institutions, Ecosystems and Growth Limits”. Advances in Economics and Business 1(2): 72-88, 2013; Tiago Nasser Appel.“Just how capitalist is China?” Brazilian Journal of Political Economy, vol. 34, nº 4 (137), pp. 656-669, October-December/2014). 2) Aqueles que pensam que esse processo já chegou ao seu termo, tendo originado um novo tipo de capitalismo, baptizado de “capitalismo político”, por contraste com o “capitalismo liberal e meritocrático” que vigoraria nos EUA, no Reino Unido, na França, etc. (e.g. Branco Milanovic, Capitalism, Alone. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019). Discordo de ambas as opiniões. Houve certamente uma mudança muito grande no sistema económico da China (mas não no seu sistema político, que continua a ser o mesmo) desde Mao-Tse-Tung a Xi Jinping, passando por Deng Xiaoping e Jiang Zemin, mas essa mudança nada tem a ver com o socialismo (ou comunismo) como seu alegado ponto de partida. Foi, isso sim, a mudança de uma variante do colectivismo oligárquico, ao estilo russo-estalinista (1928-1956), na sua versão chino-maoísta, para uma variante do colectivismo oligárquico, ao estilo russo-leninista no período da NEP (1921-1928), na sua versão chino-xiaopinguista.
- Sobre o carácter sistémico da corrupção e das desigualdades socioeconómicas na China contemporânea, ver Yu Xie & Xiang Zhou (2014), “Income Inequality in Today’s China”, Proceedings of the National Academy of Sciences 111(19): 6928-6933; Jin Han, Qingxia Zhao & Mengnan Zhang, “China’s income inequality in the global context” (2016), Perspectives in Science 7, 24-29;Chuntao Xie, Fighting Corruption: How the CPC Works. Beijing : New World Press, 2016; Minxin Pei, China’s Crony Capitalism. Cambridge MA: Harvard University Press, 2016; Branco Milanovic, Capitalism, Alone, 2019.
- Ver C.He, L. Han & R.Q. Zhang, “More than 500 million Chinese urban residents (14% of the global urban population) are imperiled by fine particulate hazard” Environ Pollut. 2016 Nov. 218:558-562 ; Huanbi Yue et al., “Stronger policy required to substantially reduce deaths from PM2.5 pollution in China”, Nature Communications, (2020) 11:1462)
- Henryk Grossman explicou a função das crises do capitalismo como sendo um meio de contrariar e mitigar a queda tendencial da taxa de lucro, ainda que à custa de tremendos prejuízos. «Do ponto de vista do capitalismo, todas as crises são crises de purificação» (The law of the accumulation and breakdown of the capitalist system. A versão original em alemão deste livro foi publicada por Hirschfeld, Leipzig, 1929). Dito de outra maneira: «O capitalismo não é ameaçado pelas crises, mas pela falta delas» (João Bernardo,“São Marx, Rogai por nós.1) Os Apocalípticos” Passa Palavra, 4-06-2020). É verdade. Mas não podemos perder de vista o reverso desta medalha: são muitos os trabalhadores assalariados que perdem ou vêm drasticamente reduzidas as suas fontes de subsistência com essas crises regeneradoras do capitalismo, ou que sofrem com as incertezas de existência que elas provocam nas suas vidas.
- Cf. Branko Milanovic, A Desigualdade no Mundo. Lisboa: Actual Editora, 2017, pp. 131-132.
- Ver N. Shaxton et al., Inequality. You Don’t Know the Half of it (or why inequality is worse than we thought).Tax Justice Network, 2012; Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Lisboa: Temas e Debates, 2014; Deborah Hardoon, Sophia Ayele e Ricardo Fuentes-Nieva, A Economia para o 1%. Oxfam: 2016, disponível em https://www.oxfam.org.br/noticias/relatorio_davos_2016; James Davies, Rodrigo Lluberas e Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook. 2016, 2017, 2018; Branko Milanovic, op.cit.; Facundo Alvaredo et al., The World Inequality Report 2018 (Paris: World Inequality Lab, 2017), http://wir2018.widworld; Oxfam Briefing Paper, January 2019.
- Para uma estimativa das somas colossais escondidas em paraísos fiscais, v. James. S. Henry, The Price of Offshore Revisited, 2012; Nicholas Shaxton, The Price of Offshore Revisited (actualização), 2014. Tax Research Limited for the Tax Justice Network/ UK:www.taxjustice.net
- Por «capitalismo globalizado 2.0» entendo designar um conjunto heterogéneo de práticas económicas e de políticas públicas tais como: 1. Ataque reiterado aos direitos laborais (greve, negociação colectiva dos contratos de trabalho, subsídio de desemprego, etc.); 2. Ataque reiterado aos serviços públicos de vocação universal (serviço nacional de saúde, escola pública, segurança social, protecção civil); 3. Privatização de empresas públicas lucrativas ; 4. Livre circulação de capitais internacionais e ênfase na segunda globalização capitalista; 5. Abertura sem condições nem restrições das economias nacionais às firmas transnacionais; 6. Redução continuada dos impostos pagos pelas firmas capitalistas. 7. Refinanciamento (com somas colossais do erário público e transferindo as perdas para a massa dos contribuintes) de bancos e outras firmas multinacionais. Algumas destas medidas, expressas numa linguagem cheia de eufemismos, fazem parte do chamado Consenso de Washington (1990).
- Ver Elizabeth Brainerd & David M. Cuder, “Autopsy on an Empire: Understanding Mortality in Russia and the Former Soviet Union”, Journal of Economic Perspectives ‒Volume 19, Number I ‒ Winter 2005 ‒ pages 107-130; Vladimir Popov, “Mortality and life expectancy in post-communist countries. What are the lessons for other countries? A concept note for a new DOC research project”, https://doc-research.org/2018/06/mortality-life-expectancy-post-communist/
- . O artigo de Robert. J. Gordon é “Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds”, Centre for Economic Policy Research, Policy Insight nº 63, September, 2012. Quanto a Larry Summers, compreendem-se facilmente as razões da sua preocupação com a “estagnação secular” (cf. Lawrence H. Summers, “Have we Entered an Age of Secular Stagnation?” IMF Fourteenth Annual Research Conference in Honor of Stanley Fischer, November 2013, Washington, DC, IMF Economic Review, Palgrave Macmillan;International Monetary Fund, vol. 63(1), pages 277-280, May 2015; L. H. Summers, “Reflections on the new ‘Secular Stagnation’ hypothesis”, 30 October 2014, https://voxeu.org/article/larry-summers-secular-stagnation; L. H. Summers, “US economic prospects: Secular stagnation, hysteresis, and the zero lower bound”, Business Economics 49 (2) (2014) 65-73) — entenda-se: a relutância crónica dos capitalistas dos países mais desenvolvidos do sistema capitalista mundial, em particular os do seu núcleo central (grosso modo, os países do chamado G7), em investirem na indústria e na agricultura nos seus próprios países, mesmo com taxas de juro muito baixas, com todas as consequências negativas que daí resultam para a procura agregada, o crescimento económico, o (des)emprego, o poder de compra dos salários, o rendimento per capita, etc. A chamada “Era de Ouro do Capitalismo” (1948-1973), uma época de expansão económica sem precedentes nos países capitalistas mais desenvolvidos, parecia ter invertido definitivamente a “estagnação secular” do capitalismo em tempo de paz. Mas essa época terminou com a ruptura dos acordos de Bretton Woods em 1971, a crise do petróleo de 1973 e o colapso das bolsas de valores em 1973-1974, o que levou à recessão da década de 1970. Acresce que mesmo esses 25 anos dourados foram pontuados por guerras regionais e conflitos armados entre países, alguns dos quais, para além das destruições que provocaram, tinham potencial bastante para “degenerarem” numa guerra nuclear global. Eis uma lista não exaustiva: guerra da Coreia (em que estiveram directamente envolvidos os EUA e a China), guerras israelo-árabes, guerra da Etiópia-Eritreia, crise dos mísseis em Cuba (em que estiveram directamente envolvidos os EUA e a URSS), guerra indo-paquistanesa, guerra do Vietnam (em que os EUA estiveram directamente envolvidos).
- A revista Bulletin of the Atomic Scientists tem, desde 1947, um relógio do holocausto nuclear [= meia-noite] bem conhecido. O seu último relatório anual assinala que estamos a dois minutos do holocausto nuclear (cf. “It is two minutes to midnight”. 2018 Doomsday Statement. Science and Security Board. Bulletin of the Atomic Scientists. Editor, John Mecklin. Disponível em https://thebulletin.Org/sites/default/ files/2018%20Doomsday%20Clock%20Statement.pdf). Em 1991, data oficial do fim da “guerra fria”, estávamos a 17 minutos (!!) do holocausto nuclear, segundo o mesmo relógio.
- Esse processo foi descrito na grande obra de Karl Polanyi, A Grande Transformação. As origens políticas e económicas do nosso tempo (Lisboa: Edições 70, Lda, 2012). A minha exposição dos temas abordados nesta secção e na seguinte segue de perto (mas não à letra) o capítulo VI desse estudo. Acresce que a grande transformação do século XIX descrita por Polanyi é, ela própria, o culminar de um processo iniciado esporadicamente nos séculos XIV e XV nalgumas cidades mediterrânicas e, em escala mais alargada, no século XVI, que Karl Marx qualificou de acumulação original ou primordial (ursprüngliche Akkumulation) e que descreveu pormenorizadamente, no que respeita, em particular, ao Reino Unido, numa parte da sua grande obra inacabada, O Capital (parte 8, capítulos 26-33, do volume 1, na tradução inglesa de 1887).
- Segundo os teóricos mais proeminentes do mercado autorregulado (em particular, Gérard Debreu e Kenneth Arrow, nos anos 1950), a concorrência perfeita define-se por 6 critérios: (1) atomicidade do mercado (a existência de um grande número de produtores [entenda-se, sociedades comerciais/firmas, N.E.] e consumidores, nenhum dos quais tem capacidade de influenciar os preços que se impõem a todos), (2) homogeneidade dos produtos [todos os produtos à venda são mercadorias, N.E.], (3) entrada e saída livre do mercado dos produtores, sem custos, (4) transparência perfeita do mercado (isto é, a informação sobre os preços, as quantidades e a natureza dos produtos circula livremente), (5) mobilidade perfeita dos factores de produção, (6) ausência de “externalidades” [leia-se: custos ou benefícios para terceiros, N.E.]. A concorrência perfeita é, como se constata, um perfeito conto de fadas.
- Karl Polanyi, A Grande Transformação. As origens políticas e económicas do nosso tempo (Lisboa: Edições 70, Lda, 2012), p.211.
- Na verdade, quando o sistema monetário internacional se baseava no chamado padrão-ouro, estalão-ouro ou libra-ouro (o vínculo de referência das moedas nacionais e das moedas internacionais, com destaque para a libra esterlina como moeda de reserva, ao preço do ouro) — uma época que perdurou grosso modo de 1870 a 1918 (fim da 1ª guerra mundial) — as dificuldades do capitalismo no plano monetário e cambial não eram menores do que são hoje. Em Agosto de 1971, quando os EUA desmantelaram o próprio padrão dólar-ouro que tinham construído em Bretton Woods, em 1944, inauguraram uma época de moeda fiduciária sem fim à vista no quadro do sistema capitalista mundial. A época em que vivemos hoje no plano cambial e monetário (e não só nesse plano), começou nessa data, há quase 50 anos, e caracteriza-se pela instabilidade crónica de todas as moedas (incluindo as mais internacionais : dólar, euro, libra esterlina, yen, renmimbi).
- As chamadas moedas virtuais ou criptomoedas (do tipo Bitcoin) foram inventadas com o propósito de substituirem as moedas mais internacionais e, sobretudo, o ouro. Nasceram, por isso, fora da autoridade de qualquer Estado-nação ou Estado nacional específico e são, pela mesma razão, administradas de forma descentralizada, utilizando a tecnologia denominada blockchain ou protocolo de confiança (uma tecnologia que pode ser usada para fins não monetários). Por todas estas razões, não são moedas no pleno sentido do termo. Aliás, há actualmente uma tendência para os Estados-nação e os Estados nacionais regulamentarem a convertibilidade dessas criptomoedas, apesar de não terem curso legal, e há também uma tendência para a sua administração centralizada como activo secundário. Ver Gold and cryptocurrencies. How gold’s role in a portfolio differs from cryptos. World Gold Council, 2021
- No seu tratado, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (São Paulo: Editora Nova Cultural Ldta,1996), o economista John Maynard Keynes fez uma lista com 8 motivos para se poupar um rendimento (pp.127-128). Na prática, são outras tantas ilustrações da função do dinheiro como reserva de valor.
- Cf. K. Polanyi, op.cit., p.215.
- É este princípio organizador fundamental das condições de produção e de troca específicas do modo capitalista de produção que foi analisado, minuciosamente e pela primeira vez, por Karl Marx na sua obra O Capital (vol.1−1867; vol.2−1885; vol.3−1894). O volume 4 (e final) só foi completamente publicado no fim do século XX. Constitui o teor dos volumes 30 (1988), 31 (1989), 32 (1989), 33 (1991) e 34 (1994) da Marx/Engels Collected Works, a edição inglesa parcial das obras completas de Marx e Engels em alemão, denominada Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA-II), que estão em curso de publicação (66 volumes publicados até à data, mais 44 previstos).
- Global Estimates of Child Labour. Results and Trends 2012-2016. OIT, 2017. As estimativas deste relatório foram feitas com base em estatísticas de 105 países, abrangendo 70% da população infantil mundial.
- Sangheon Lee, Deirdre McCann, Jon C. Messenger, Duração do trabalho em todo o mundo: tendências de jornadas de trabalho, legislação e políticas numa perspectiva global comparada. Secretaria Internacional de Trabalho. Brasília: OIT, 2009.
- Diz-se que há um monopólio quando há uma única firma produtora e vendedora de um certo tipo de bens ou serviços e diz-se que há um oligopólio quando um certo tipo de bens ou serviços é produzido e vendido por um número muito reduzido de firmas. No monopsónio há uma única firma compradora de um certo tipo de bens ou serviços, enquanto que no oligopsónio um certo tipo de bens ou serviços é comprado por um número muito reduzido de firmas.
- Exceptuam-se os chamados “empresários em nome individual” (ou “empresário individual”, no Brasil), um tipo de empresa onde há um único indivíduo ou pessoa singular como titular.
- A “pessoa jurídica” (também conhecida como “pessoa moral”) é uma ficção criada pelo direito positivo com vista a conferir direitos e obrigações a um ente autónomo das pessoas de carne e osso, mas criado por elas. “É a pessoa jurídica o ente incorpóreo que, como as pessoas físicas, pode ser sujeito de direitos. Não se confundem, assim, as pessoas jurídicas com as pessoas físicas, as quais deram lugar ao seu nascimento; ao contrário, delas se distanciam, adquirindo patrimônio autônomo e exercendo direitos em nome próprio. Em razão disso, as pessoas jurídicas têm nome particular, como aquelas físicas, domicílio, nacionalidade; podendo estar em juízo, como autoras, ou na qualidade de rés, sem que isso reflita na pessoa daqueles que as constituíram. Por último, têm vida autônoma, muitas vezes superior às das pessoas que as formaram; em alguns casos, a mudança de estado dessas pessoas não irradia efeitos na estrutura das pessoas jurídicas, de molde a variar as pessoas físicas que lhes deram origem sem que tal fato incida no seu organismo. É o que ocorre via de regra com as sociedades ditas institucionais ou de capitais, cujos sócios podem mudar de Estado ou ser substituídos sem que se altere a estrutura social.” (Fran Martins, Curso de Direito Comercial. 31ª ed. rev., atual: Rio de Janeiro, 2008, p.184).
- Joseph Alois Schumpeter (1912), The Theory of Economic Development, tenth printing 2004, Transaction Publishers: New Brunswick, New Jersey.
- A afirmação de que socialismo, comunismo, associação dos produtores livres e iguais e sociedade cooperativa são quase-sinónimos só pode ser chocante (sobretudo pela inclusão de sociedade cooperativa no rol) para quem ignore a história do movimento emancipador dos trabalhadores assalariados. Voltarei a este assunto num texto que dará continuidade a este. Ver, a este propósito, o Post-Scriptum do presente artigo.
- Nos Economic Manuscripts of 1861-63 (em MECW. Vol. 34, pp. 108/109) e na secção A Tendência Histórica da Acumulação Capitalista do Volume 1 de O Capital, Karl Marx formula o carácter distintivo do comunismo como sendo a restauração de propriedade individual com base nas aquisições mais elevadas da era capitalista, nomeadamente a cooperação e a posse conjunta dos meios sociais de produção. Propriedade é um conceito compósito que só pode ser compreendido analisando-o nos seus diversos constituintes. Reservo essa análise para uma sequela deste texto. Aqui vou limitar-me a indicar os critérios de classificação desses constituintes. 1º) A natureza da propriedade, isto é, da entidade possuída (e.g. um artefacto, uma entidade natural viva ou não-viva, uma certa informação, um certo conhecimento, uma certa faculdade humana, um ser humano ou um grupo de seres humanos). 2º) A natureza do proprietário, isto é, da entidade possuidora da propriedade (e.g. uma pessoa, uma família, um grupo, uma entidade legal). 3º) A natureza dos direitos do proprietário sobre a propriedade. Aqui podemos distinguir, entre outros: 3.A) O direito a dispor do rendimento líquido da propriedade. 3.B) O direito a alienar a propriedade ou transferi-la para outrem. 3.C) O direito de controlar a utilização da propriedade. Por estas razões, a expressão “propriedade privada”, tão cara aos defensores do capitalismo, tem muito que se lhe diga e não deve ser aceite pelo valor genérico com que é frequentemente apregoada, a saber como sinónimo de “propriedade individual”, em vez de propriedade privada capitalista. A sua apologia, na boca dos defensores do modo capitalista de produção, significa apenas e tão-somente, (i) que os trabalhadores não devem, em caso algum, ser proprietários dos meios sociais de produção com os quais trabalham, (ii) que os meios sociais de produção devem ser propriedade exclusiva de indivíduos que tenham a capacidade de alugar a força de trabalho dos trabalhadores necessários para os fazer funcionar de modo a que possam embolsar um lucro.
- . Nos países capitalistas mais desenvolvidos, os produtores individuais (de bens e serviços) que trabalham por conta própria são, actualmente, muito diversos no que respeita às actividades a que se dedicam, embora sejam eles próprios relativamente pouco numerosos. Refiro-me a todos quantos trabalham sozinhos, ou em parceria com familiares, com meios privados individuais de trabalho ou produção (como, p.ex., a loja do merceeiro, o pequeno restaurante familiar, a quinta do pequeno agricultor familiar, a oficina do artesão, o consultório particular do médico, o escritório particular do advogado, o estúdio do artista plástico, o escritório do tradutor independente ou do web designer independente), que vivem actualmente nos interstícios da sociedade capitalista. É impossível prever quais serão as actividades profissionais a que hoje se dedicam que subsistirão numa sociedade socialista (mutato nomine, numa democracia integral). Uma coisa é certa: uma democracia integral negar-se-ia a si própria se não reconhecesse a estes produtores os mesmos direitos de cidadania que a todos os demais.
- Sorapop Kiatpongsan e Michael I. Norton (2014), “How Much (More) Should CEO Make? A Universal Desire for More Equal Pay”. Perspectives on Psychological Science 9, nº 6 [November 2014]: 587–593.
- O PSI-20 (acrónimo de Portuguese Stock Index) é o principal índice de referência do mercado de capitais português. É composto pelas acções das 20 maiores sociedades comerciais cotadas na bolsa de valores de Lisboa e reflecte a evolução dos preços dessas acções, que são as de maior “liquidez” entre as negociadas no mercado português.
- Jornal de Notícias, 2-03-2018; Rui Barroso, Diário de Notícias, 14-05-2018.
- “Rewarding or Hoarding? An Examination of Pay Ratios Revealed by Dodd-Frank”. A report prepared by the staff of representative Keith Ellison. May 2018.
- Karl Marx [1866], Instruções para os Delegados do Conselho Geral Provisório[ao 1º congresso da Associação Internacional de Trabalhadores, em Genebra, N.E.]. As Diferentes Questões. (Em Karl Marx & Friedrich Engels, Collected Works, vol.20. London: Lawrence & Wishart, 2010, p.190). Os excertos citados foram extraídos das alíneas a) e b), respectivamente, da secção 5 deste texto de K. Marx, intitulada Trabalho Cooperativo. O parágrafo completo da alínea a) de onde foi extraída a primeira citação diz o seguinte: «Reconhecemos o movimento cooperativo como uma das forças transformadoras da sociedade actual, que é uma sociedade baseada em antagonismos de classes. O seu grande mérito é o de mostrar de modo prático que o actual sistema depauperante e despótico de subordinação do trabalho ao capital pode ser superado pelo sistema republicano e beneficente da associação de produtores livres e iguais.» O realce em itálico é do original. Minha tradução.
- Para a lista completa destas “sociedades comerciais”, ver Rain Forest Action Network, List of Tar Sands Companies, https://www.ran.org/list-tar-sands-companies/
- O Conselho da União Europeia (UE) é formado pelos ministros dos governos de cada país da UE, em função da matéria agendada. Por essa razão, é o único dos órgãos dirigentes da UE cujos membros são eleitos pelos seus concidadãos através de eleições legislativas. Mas isso não sucede com todos os ministros, porque há, e sempre houve, ministros que nunca concorreram a eleições. Seja como for, o Conselho da UE não responde perante ninguém.
- Cf. F. Hayek, “The Economic Conditions of Interstate Federalism”. New Commonwealth Quaterly, V, nº2 (September 1939) 131-149. Reeditado em F. Hayek, Individualism and Economic Order. Chicago: The University of Chicago Press. 1996
- «De todas as restrições à democracia, o federalismo tem sido a mais eficaz e a mais satisfatória (…). O sistema federal limita e restringe o poder soberano, dividindo-o e atribuindo ao governo só certos direitos definidos. É o único meio de refrear, não só a maioria, mas o poder do povo inteiro (…)». Palavras de Lord Acton [em “Sir Erskine May’s Democracy in Europe,” History of Fredoom, p.98] citadas aprovadoramente por Friedrich Hayek como epígrafe do capítulo 15 do seu livro, O Caminho para a Servidão (5ª ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990) e no corpo do seu livro The Constitution of Liberty (Chicago: The University of Chicago Press, 1960, 2011. p.275). Minha tradução.
- John Stuart Mill (1861), Considerations on Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2010; Bernard Manin, Principes du Gouvernement Représentatif. Paris: Flammarion, 1995.
- A noção de “representação” (eleitoral) que acaba de ser descrita é de carácter semiótico: X (por exemplo, a bandeira verde-rubra das quinas) representa Y (por exemplo, Portugal). Tal noção não tem, por conseguinte, nada a ver com a noção estatística de amostra representativa ou não-enviesada resultante da constituição, por meio de uma selecção aleatória, de uma subpopulação com propriedades semelhantes às da população-universo de onde foi extraída. Só a democracia, tal como será caracterizada mais adiante, é compatível com esta noção de representação não-enviesada, de representatividade genuína, oriunda da estatística. É o caso, nomeadamente, do processo de designação por sorteio dos cidadãos encarregados de exercer temporariamente funções legislativas, executivas ou jurisdicionais.
- O Estado de São Paulo, 01-04-2017.
- Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. v. 1. (1. Ditadura militar — Brasil. 2. Violação de direitos humanos. 3. Relatório final). Brasília: 2014. 976 p. Cf. pp.129-130 e 387.
- Vladimir Platonow. “Militares protestam no Rio contra possibilidade de revisão da Lei de Anistia”. Agência Brasil. 07/08/2008. As afirmações de Bolsonaro estão documentadas em vídeo: a de 7 de Agosto de 2008 em https://www.youtube.com/watch?v=6_catYXcZWE, e a 8 de Julho de 2016, feita no programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, em https://youtu.be/orIv9ojQL3o.
- Claire Martin, “Chili: le bilan humain de la dictature d’Augusto Pinochet revu à la hausse”. RFI, 20-08-2011.
- Revista Veja, nº1575, 02-12-1998.
- Cf. Aristóteles, Política, livro VI, parte II.
- Só os homens atenienses maiores de 20 anos eram considerados cidadãos. As mulheres atenienses estavam excluídas da cidadania, da participação igualitária nas instituições democráticas da república (pólis) ateniense. Voltaremos a este importante assunto com mais pormenor mais adiante (ver secção 16).
- Os candidatos a uma eleição eram usualmente apresentados oralmente perante a Assembleia do Povo (ou Eclésia) por um outro cidadão e podiam também apresentar-se eles próprios. Também podiam ser apresentados in absentia e sem terem sido previamente consultados. Nesse caso, estavam autorizados a declinar a sua eleição, declarando sob juramento que tinham uma justificação legítima para o fazer.
- Os magistrados (hai arkhai ou hai arquai) e magistratura/magistrado (arquê ou arkhê) eram termos que abrangiam uma ampla gama de funções que correspondiam, grosso modo, às que, hoje em dia, na República Portuguesa, incumbem, separadamente, aos ministros, aos trabalhadores da administração pública das diferentes direcções-gerais dos diferentes ministérios, aos deputados da Assembleia da República e ao tribunal de contas.
- A razão dessa impropriedade lexical é a seguinte. A phylê ateniense não era uma tribo porque a sua base era mais territorial do que genealógica. Por isso, «ao contrário da antiga tribo gentílica (geschlechtsstamm), chamou-se agora tribo local (Ortsstamm). A tribo local não era apenas um corpo político autoadministrado, era também um corpo militar. Elegia o seu filarca ou chefe de tribo, que comandava a cavalaria, um taxiarca para a infantaria e um estratego para o comando de todas as tropas recrutadas no território da tribo. Armava cinco navios de guerra com seus tripulantes e comandantes. E recebia como guardião-simbólico um herói da Ática, cujo nome epónimo a identificava. Por último, cabia à tribo, ainda, eleger [na verdade, sortear, e não eleger, N.E.] cinquenta conselheiros para o conselho de Atenas [isto é, o Conselho dos 500, N.E.]». Friedrich Engels (1884), A origem da família, da propriedade privada e do Estado, capítulo 5. Minha tradução a partir da versão inglesa.
- A sinopse da democracia ateniense apresentada na secção 15 baseia-se, entre outras obras, em Claude Mossé, Les institutions politiques grecques à l’époque classique. Paris: Armand Collin, 1967 e Athènes. Histoire d’une démocratie. Paris: Le Seuil, 1971; Lewis H. Morgan, A Sociedade Primitiva I [título original: Ancient Society, coisa bem diferente], Lisboa: Editorial Presença, 1980; José Ribeiro Correia, A Democracia na Grécia Antiga. Coimbra: Livraria Minerva, 1990; Aristotle. Politics, tradução de Benjamim Jowett. Batoche Books. Kitchener, 1999; Moses I. Finley, Démocratie antique et démocratie moderne. Paris: Éditions Payot & Rivages, 2003 [título original: Democracy, Ancient and Modern, 1973]; Elizabeth Baughman, “The Scythian Archers: Policing Athens,” em C. Blackwell, ed., Dēmos: Classical Athenian Democracy (A.Mahoney and R. Scaife, edd., The Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities [www.stoa.org], 2003, E. Baughman; John A. Rothchild, “Introduction to Athenian Democracy of the Fifth and Fourth Centuries BCE” (October 9, 2007). Wayne State University Law School Research Paper No. 07-32. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=1020397 ou em http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1020397; Aristotle, The Athenian Constitution, tradução de Frederic G. Kenyon, Project Guttenberg, 2008; Josiah Ober, “The Original Meaning of ‘Democracy’: Capacity to Do Things, not Majority Rule,” Constellations Volume 15, No 1, 2008; Cornelius Castoriadis, La Cité et les Lois. Ce qui fait la Grèce, 2. Paris: Éditions du Seuil, 2008; Mogens H. Hansen, La Démocratie athénienne à l’époque de Démosthène. Paris: Éditions Tallandier, 2009 [título original: The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles, and Ideology, 1991]; Cornelius Castoriadis, Thucydide, la force et le droit. Ce qui fait la Grèce, 3. Paris: Éditions du Seuil, 2011; Jean Christophe Couvenhes (2011), “L’introduction des archers scythes, esclaves publics à Athènes:la date et l’agent d’un transfert culturel”. Publisorb, p.99-118; Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grève ancienne. Paris: Éditions du Seuil, 2015.
- Richard Langworth (Editor), Churchill By Himself: The Definitive Collection of Quotations. NewYork: Public Affairs. Reprint edition (May 24, 2011), p.116. Minha tradução.
- Encontramos um eco destas frases nos versos «o povo é quem mais ordena/dentro de ti, ó cidade!» na letra da canção Grândola, Vila Morena, de José Afonso.
- Excertos da “Alocução fúnebre de Péricles em homenagem aos mortos na guerra do Peloponeso”, proferida em 405 a.C. Em Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, Livro II, § 36 a 42. Minha tradução a partir da tradução francesa de Jacqueline de Romilly, da tradução inglesa de Richard Crawley e da tradução portuguesa de Mário da Gama Kury. [realce a traço grosso acrescentado ao original, N.E.].
- Tucídides, op.cit., livro V, § 18.2.
- É mais do que plausível que os três termos com que Tucídides caracterizou a democracia ateniense (autonomous [que faz as suas próprias leis], autodikos [que tem o seu próprio poder jurisdicional] e autotelês [que se autogoverna]) tenham inspirado Abraham Lincoln a forjar a sua curta e certeira definição de democracia na alocução fúnebre de homenagem aos mortos na guerra civil americana que fez no cemitério nacional de Gettysburg, em 19 de Setembro de 1863, e que termina com as palavras: «…that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth» [<fazer com>…que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desapareça da face da Terra] (https://en.wikisource.org/ wiki/Gettysburg _ Address_(Bliss_copy)). Digo que “é mais do que plausível” porque, como vários autores fizeram notar, há uma grande semelhança estrutural entre a alocução fúnebre de Péricles, relatada por Tucídides, e a alocução fúnebre de Lincoln em Gettysburg (e.g. Garry Wills, Lincoln at Gettysburg: The Words That Remade America. New York: Simon & Schuster, 1992; Hannah Szapary (2018), “The Greeks at Gettysburg: An Analysis of Pericles’ Epitaphios Logos as a Model for Abraham Lincoln’s Gettysburg Address”, The Harvard Undergraduate Classics Journal Vol. 2, Spring 2017, pp., 2 ̶4). Assim sendo, podemos conjecturar que Lincoln conhecia bem e apreciava esse grande monumento literário que é a História da Guerra do Peloponeso de Tucídides.
- O termo archai (magistrados) não incluia todos os cidadãos que exerciam responsabilidades públicas, por tiragem à sorte ou por eleição. Por exemplo, os sacerdotes, os coregos, os arautos públicos e os embaixadores eram funções públicas, mas eram consideradas como estando fora da magistratura. Ora, os cidadãos que exerciam estas funções públicas eram eleitos. Os dois factos — o facto de os seus titulares não serem considerados magistrados e o facto de serem eleitos — estão estreitamente correlacionados. Para isso deverá ter concorrido a constatação de que o sorteio e a colegialidade não eram possíveis ou aconselháveis no exercício dessas funções.
- Friedrich Engels (1820-1895) foi talvez o primeiro a assinalar e reconhecer este facto, embora o tenha feito com alguma relutância e sem se dar conta, aparentemente, de todas as implicações da situação paradoxal que tão bem descreve: «Vimos que um dos traços característicos essenciais do Estado, é a existência de uma força pública de coerção separada da massa do povo. Atenas [dos séculos V e IV a. C., N.E.] não tinha, ainda, senão um exército popular e uma frota equipada directamente pelo povo, que a protegiam contra os inimigos do exterior e mantinham em respeito os escravos, que já constituíam a maioria da população na época. Para os cidadãos, essa força pública de coerção só existia, a princípio, em forma de polícia; esta é tão velha como o Estado e, por isso, os ingénuos franceses do século XVIII não falavam de nações civilizadas, mas de nações policiadas (“nations policées”). Os atenienses instituíram, pois, juntamente com o seu Estado [entenda-se: juntamente com o seu exército e a sua frota, que não eram “uma força pública de coerção separada da massa do povo”, e, por conseguinte, que não eram um Estado, N.E.] uma polícia — um verdadeiro corpo de guardas a pé e a cavalo — formada de arqueiros [os arqueiros Citas, N.E.], ou, como se diz no Sul da Alemanha e na Suíça: Landjäger. Contudo, esse corpo de guardas era constituído por escravos [que estavam , por conseguinte, ao serviço e que recebiam ordens dos cidadãos livres que deveriam policiar…N.E.]. Tal ofício parecia tão indigno ao ateniense livre que ele preferia ser detido por um escravo armado a cumprir ele mesmo aquelas funções tão aviltantes [a motivação principal não era essa e não era moral, mas política: impedir, em todas as circunstâncias, a existência de uma força pública de coerção (armada) separada do corpo dos cidadãos e dotada de autonomia, N.E.]. Era uma manifestação da antiga maneira de sentir da gens. O Estado não podia existir sem a polícia; mas, quando jovem, não conseguia dar respeitabilidade a um ofício tão desprezível aos olhos dos antigos gentílicos. Não tinha, ainda, autoridade moral para isso.» (F. Engels, A origem da família, da propriedade privada e do Estado. No seguimento das investigações de Lewis H. Morgan, capítulo 5, minha tradução a partir da tradução inglesa de 1908).
- O excelente historiador Mogens H. Hansen defendeu um ponto de vista oposto, pelo menos em parte, em Polis and City-State: An Ancient Concept and its Modern Equivalent. Acts of the Copenhagen Polis Centre Vol. 5, Copenhagen. 1998. Para a defesa de um ponto de vista semelhante (mas não idêntico) ao que foi exposto no corpo principal deste texto, ver Cornelius Castoriadis, La Cité et les Lois. Ce qui fait la Grèce, 2. Paris: Éditions du Seuil, 2008.
- Atenas também não era apenas uma cidade. Abrangia a cidade propriamente dita, com as suas duas zonas, Acrópole (parte alta) e Astu (parte baixa), e o campo (Chora), a área agrícola onde viviam os camponeses, constituindo em conjunto a Ática, um território de tamanho semelhante ao do Grão-Ducado do Luxemburgo nos dias de hoje, com cerca de 2.650 km2. A Ática incluía vales (Eleusis, Maratona, etc.), montanhas (Monte Citerão, Monte Himeto, etc.), algumas planícies e a orla costeira.
- Em 1847, Karl Marx escreveu a seguinte passagem, fatiloquente, já que parece anunciar, por exemplo, Auschwitz-Birkenau e os demais campos trabalho escravo e de extermínio nazi; Kolyma e os demais campos de trabalho forçado do Gulag estalinista ou do regime de Pol Pot; as bombas atómicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki no fim da 2ª guerra mundial; as centenas de milhares de bombas de napalm e os milhões de litros de “Agente Laranja” despejados pelos B-52 americanos sobre as cidades e os campos do Vietnam do norte, do Camboja e do Laos nos anos 1970: “A barbárie reapareceu, mas desta vez ela é engendrada no próprio seio da civilização e é parte integrante dela. É a barbárie leprosa, a barbárie como lepra da civilização” (K. Marx, « Arbeitslohn », 1847, Kleine Ökonomische Schriften, Berlin, Dietz Verlag, 1955, p. 245, citado por Michael Lowy. Figures de la barbarie moderne au XXe siècle, 7 de Dezembro de 2007. Fonte: https://www.cahiersdusocialisme.org/figures-de-la-barbarie-moderne-au-xxe-siecle/. Note-se que Marx emprega aqui o termo barbárie numa das suas acepções usuais, “algo que manifesta crueldade”, e não no seu sentido antropológico, como uma das fases de desenvolvimento sociocultural da humanidade (Lewis Morgan).
- «A agricultura camponesa em pequena escala e a prossecução de mesteres artesanais independentes, que formam, em conjunto, a base do modo feudal de produção, e que, depois da dissolução desse sistema, continuam a existir ao lado do modo capitalista de produção, também formam os alicerces económicos das comunidades clássicas no seu melhor [entenda-se: Atenas e as demais poleis gregas democráticas nos séculos V e IV a.C., por um lado, e, por outro, a República Romana dos mesmos séculos, N.E.], depois da forma primitiva da propriedade comum da terra ter desaparecido e antes da escravidão se ter apoderado a sério da produção» (K. Marx [1887] Capital. Volume 1, tradução inglesa de Samuel Moore e Edward Aveling, revista por Friedrich Engels, p. 236, n.21).
- Todavia, como salientou M. I. Finley, «por muito paradoxal que possa parecer, nada cria mais complicações no quadro do sistema de status da antiguidade do que a instituição da escravatura [entenda-se: escravidão, N.E.]» (A Economia Antiga. Porto: Edições Afrontamento, 1980, p.81). E assim é, de facto. Tudo parece muito simples: um escravo é propriedade, sujeito às regras e ao processo de propriedade, no que respeita à venda, aluguer, roubo, crescimento natural, etc. Não obstante isso, podiam encontrar-se escravos e homens livres trabalhando lado a lado (por exemplo, no Erécteon, um templo da Acrópole de Atenas) e pagos à mesma tarifa. Mais: os escravos participavam na pólis ateniense de um modo indirecto, porque, como vimos, não estavam excluídos do exercício de cargos públicos subalternos (e remunerados!) de natureza administrativa ou executiva na pólis, bem pelo contrário. Além disso, a condição de escravo não era necessariamente sinónimo de pobreza, nem sequer um obstáculo intransponível à acumulação de riqueza. Pasion, o maior armador e banqueiro de Atenas, era um escravo (!) que acabou por ser libertado em homenagem aos seus talentos financeiros e à sua probidade e a quem a Eclésia, num gesto raro, concedeu por decreto, poucos anos antes da sua morte, o estatuto de cidadão em recompensa pela sua prodigalidade para com a pólis ateniense. E Phormion, seu antigo colaborador e seu sucessor no negócio da banca, era também um escravo que acabou por ser libertado (Claude Mossé, “Les esclaves banquiers à Athènes au IVe siècle av. J.-C. : une forme originale d’ascension sociale”, em Myriam Cottias, Alessandro Stella et Bernard Vincent, Esclavage et dépendances serviles. Paris: Éditions l’Harmattan. 2006, p.119-125; Francisco Mari, “Le prestige est-il affaire d’héritage ? Le cas d’Apollodore et de Pasion”, em Fr. Hurlet, I. Revoal, & I. Sidéra, ed. Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale. Paris: Éditions de Boccard, 2014, p. 77-9).
- Aqui, também, nada é tão simples quanto parece. Apesar de excluídas da cidadania, as mulheres atenienses não eram um elemento amorfo da pólis, por várias razões. Por um lado, elas pertenciam a um oikos (= agregado familiar), a primeira forma de existência institucional do dêmos (povo), sem o qual não haveria nem pólis nem politeia, «e, ao mesmo tempo, um primeiro campo onde se realiza[va] um certo tipo de poder: o poder do homem sobre a mulher e sobre as crianças, e o poder do homem e da mulher sobre os escravos» (C. Castoriadis, La Cité et les Lois. Ce qui fait la Grèce. 2. Paris: Éditions du Seuil, 2008, p.178). Por outro lado, as mulheres atenienses casadas participavam na pólis através das festas religiosas, que eram festas cívicas, como as Panateneias e as Tesmofórias, através do sacerdócio (os cargos sacerdotais eram cargos públicos) e através da maternidade, porque a legislação a partir de Péricles obrigava a que o cidadão fosse filho não só de pai ateniense, mas também de mãe ateniense. (As mulheres livres mas metecas [= não-atenienses], geravam meninos que eram notoi, bastardos, mas não cidadãos). As atenienses pobres desempenhavam também um importante papel socioeconómico porque tinham de trabalhar fora do oikos para ajudarem no sustento das suas famílias. Desempenhavam muitas profissões nesse âmbito. Eram tecedeiras, lavadeiras, enfermeiras, parteiras, merceeiras, vendedeiras de tecidos e produtos de beleza. E algumas mulheres, tanto atenienses como metecas, conseguiam influenciar o debate político pela sua inteligência, saber e perspicácia. Eram as chamadas hetáirai (cortesãs), de que o exemplo mais conhecido é o da meteca Aspásia de Mileto, a companheira de Péricles depois deste se ter divorciado e, na prática, sua segunda esposa.
- Havia dois tipos de liturgias: para as festas cívicas e para a frota de guerra. No primeiro tipo de liturgia, o cidadão rico (ou o meteco rico) comprometia-se a financiar as despesas necessárias a uma das grandes festas da cidade e a participar na sua organização — por exemplo, as festas de Dionísio, de Apolo ou de Atenas. No segundo tipo de liturgia, o contribuinte rico devia encomendar e manter (parcialmente) à sua custa um navio da frota. As liturgias eram pesados encargos. Mas tinham uma contrapartida. Encarregar-se de uma liturgia era um empreendimento de que todo o cidadão (ou meteco) rico se orgulhava e de que, se fosse politicamente ambicioso, se prevalecia perante o seu auditório, sobretudo se fosse acusado numa acção judicial.
- Até Junho de 2013, foram patenteados mais de 4.300 genes humanos nos EUA. Um acordão do Supremo Tribunal desse país declarou, nessa data, que as patentes dos genes humanos eram ilegais porque o ADN “é um produto da Natureza,” devendo, por conseguinte, estar acessível à investigação científica e aos testes genéticos. As patentes existentes foram automaticamente anuladas. Para uma análise aprofundada deste assunto, ver Gene Cartels: biotech patents in the age of free trade, de Luigi Palombi, 2009, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA.
- Cf. Alan Freeman (2019). “The sixty-year downward trend of economic growth in the industrialised countries of the world.” GERG Data Group working paper No.1, January 2019. Manitoba: Geopolitical Economy Research Group.
- John W. Schoen, “Financial crisis of 2008 is still taking a bite out of your paycheck 10 years later”, 12 de Setembro de 2018, CNBC (https://www.cnbc.com/2018/09/11/financial-crisis-of-2008-still-taking-bite-out-of-your-paycheck-report.html).
- Não existe em português (nem nos demais idiomas românicos) um termo equivalente a economics, criado em 1890, ou pelo menos utilizado, por Alfred Marshall como um substituto de political economy (economia política.) De facto, afigura-se claro que Marshall visava com esse termo denominar as doutrinas económicas “marginalistas” de Jevons, Menger, Walras e dele próprio, bem diferentes da economia política praticada até então (e que, ulteriormente, seria qualificada de clássica). Dado que estas doutrinas não são científicas (cf. Mario Bunge, Economia y Filosofia. Madrid: Editorial Tecnos, S.A, 1985; Mario Bunge, “Economia Positiva”, capítulo 3 de Las Ciencias Sociales en discusion.Una perspectiva filosófica. Penguin Random House. Grupo Editorial Argentina, 2011. Edição do Kindle), proponho-me traduzir economics por economia escolástica (um termo usado por Mario Bunge). Uma denominação mais curta e informal (e algo zombeteira) poderia ser economítica (economia+mítica). Há o hábito, sobretudo nos EUA, de qualificar a economia escolástica marginalista e neomarginalista de “neoclássica”. Mas isso não tem sentido. Seria o mesmo, observou Schumpeter, do que qualificar a teoria da relatividade de Einstein de neonewtoniana (J.A. Schumpeter, History of Economic Analysis. London: George Allen and Unwin, 1954, p. 919), com a agravante de que, no caso em apreço, se trata de uma regressão e não de um avanço, já que a economia política clássica (e.g. W. Petty, J. Steuart, A. Smith, D. Ricardo, J. Mill, J.C.L. Sismondi) era em tudo superior à “economics”, sua alegada sucessora. Por isso, é muito mais exacto qualificá-la de contraclássica ou anticlássica, como sugeriram Maurice Dobb (Theories of Value and Distribution since Adam Smith. Cambridge: Cambridge University Press, 1973, p.248) e Milan Zafirovski (“How ‘neo-classical’ is neoclassical economics? With special reference to value theory”, History of Economics Review, winter, 1–15, 1999). Sobre os falsos postulados da “economics” (economítica), ver, por exemplo, Christian Arnsperger & Yanis Varoufakis, “What Is Neo-classic Economics?”, Post-Autistic Economics Review, Issue nº 38, 1 July 2006; Fred Moseley, “A Critique of the Marginal Productivity Theory of the Price of Capital”, Real-world Economics Review, issue nº 59; 12 March 2012; Fred Moseley, “Mankiw’s attempted resurrection of marginal productivity theory”, Real-world Economics Review, issue nº 61, 26 September 2012. Sobre os modelos fantasistas da “economics” e as suas pseudoprevisões, ver J.M. Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda [a edição original, em Inglês, é de 1936], São Paulo: Editora Nova Cultural Ldta, 1996, capítulo 12; Wassily Leontief, “Academic Economics”, Science, July 1982: Vol. 217, Issue 4555, pp.104-107, e “Academic Economics Continued”, Science, Vol. 219, 25 February 1983, Issue 4587, pp.904-907; Benoit Mandelbrot, The (Mis)behaviour of Markets, Basic Books; annotated edition (March 7, 2006), Refet Gürkaynak e Rochelle Edge, “Dynamic stochastic general equilibrium models and their forecasts”, 28 February 2011, VOX, CEPR Policy Portal (https://voxeu.org); Paul Davidson, “Is economics a science? Should economics be rigorous? ”, Real-world Economics Review, issue nº 59, 12 March 2012, pp. 58-66 (http://www.paecon.net/PAE Review/issue59/Davidson 59.pdf).
- Oligarquia electiva liberal: «oligarquia» — etimologicamente “governo de poucos” (Gr. oligoï, “pouco numerosos” + arkho, “comandar”, “reger”) — porque uma classe social privilegiada bem definida e pouco numerosa domina economicamente a sociedade e, em grande medida, também a dirige politicamente por intermédio, em ambos os casos, dos bons ofícios de uma camada específica de agentes especializados que, nas sociedades capitalistas se auto-intitulam amiúde de elite ; «liberal» porque essa classe e a sua elite dirigente coexistem e convivem, melhor ou pior, com um certo número de liberdades, direitos, garantias jurisdicionais e instituições sociais que são o resultado e o sedimento de lutas emancipadoras travadas durante séculos pela arraia-miúda (o termo é de Fernão Lopes [1380/1390-1460] cronista oficial do reino de Portugal) e que não terminaram.
- Esta tripla distinção baseia-se, com uma terminologia e uma conceptualização um tanto diferentes, na que Cornelius Castoriadis estabeleceu em “Fait et à Faire” (no livro homónimo Fait et à Faire. Les Carrefours du Labyrinthe, 5. Paris: Éditions du Seuil, 1996, p.74), em “La démocratie comme procédure et comme régime” (no livro La Montée de l’Insignifiance. Les Carrefours du Labyrinthe, 4. Paris: Éditions du Seuil, 1996, p.276) e em “Que Democracia?” (no livro Figuras do Pensável. As Encruzilhadas do Labirinto. Lisboa: Instituto Piaget, 2000, p.146).
- Foi Cícero que traduziu politeia para república em Latim, quando traduziu o livro homónimo de Platão. Mas a politeia democrática grega nada tem de semelhante com a república romana. São mesmo realidades diametralmente opostas. Essa é das razões pela qual evito, tanto quanto possível, usar o termo república para elucidar o conceito de democracia
- Como vimos, os atenienses chamavam harkhai aos cidadãos encarregados de exercer temporariamente uma parcela do poder político em muitos orgãos extra-Eclésia e extra-Heliléia. Sigo aqui a tradição que consiste em traduzir arkhai por «magistrados» e hai arkhai por «os magistrados.» Fabrice Wolf sugere, no entanto, que deveríamos traduzir arkhai por delegados (em vez de magistrados), dada a conotação negativa deste último termo, resultante de todas as injustiças cometidas por aqueles que são designados por «magistrados» nas sociedades modernas (F. Wolf, Qu’est-ce que la démocratie directe? Éditions AntiSociales, Paris, 2010, p.61). Infelizmente, delegado e delegacia têm, no Brasil, sentidos muito diferentes daqueles que gostaríamos de lhes atribuir (em Portugal e no Brasil) se pudessem realmente servir de substitutos a magistrado e magistratura no sentido ateniense. Daí que, tudo ponderado, me pareça não ser viável aplicar a solução sugerida por Fabrice Wolf à língua portuguesa.
- Nas oligarquias electivas (quer liberais quer iliberais), o que impropriamente se denomina “o executivo” ou “o poder executivo” na linguagem político-filosófica e no direito constitucional moderno, cinde-se, de facto, em dois poderes bem distintos: poder governativo (ou função governativa) e poder administrativo (ou função administrativa). [Cf. C. Castoriadis “La démocratie comme procédure et comme régime”, em La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe, 4. Paris: Éditions du Seuil, 1996]. O governo, nas oligarquias electivas, não aplica nem “executa” as leis em vigor. O governo age (governa), isso sim, no quadro das leis em vigor. Por exemplo, a lei (em geral a Constituição) diz que o governo deve apresentar anualmente uma proposta de Orçamento do Estado (O.E.) perante o parlamento e que este (que, neste caso, partilha com o governo uma função governativa e não “legislativa”) o deve votar, tal como foi apresentado ou com emendas. A Constituição não diz, nem poderia dizer, qual deve ser concretamente o conteúdo do O.E. Esse conteúdo depende dos objectivos, das prioridades, dos compromissos do governo e da correlação de forças entre o partido ou partidos do governo e os demais partidos presentes no parlamento, que têm também os seus objectivos, as suas prioridades e os seus compromissos. O poder administrativo — atendendo ao facto de que a administração pública não pode ser integralmente mecanizada, informatizada, automatizada — também não pode escapar às questões de interpretação política. Ora, sucede que, nas oligarquias electivas (quer liberais quer iliberais), o poder administrativo está, em grande medida, subordinado ao poder governativo. Por isso, não pode ser puramente “executivo.” O poder executivo, como unidade da função governativa e da função administrativa, só existe em democracia.
- Adsumus é uma palavra latina que significa “estamos presentes” ou “aqui estamos”. Uma Assembleia Adsumus dos Cidadãos é uma assembleia em que estão presentes (ou têm o direito de estar presentes) todos os cidadãos de um país ou de uma cidade, como sucedia na Ekklêsia ateniense.
- Ler, a este propósito, o excelente livro de Daniel E. Saros, Information Technology and Socialist Construction: The end of capital and the transition to socialism (New York: Routledge. 2014), em particular o capítulo 7.
- Cf. Raul Magni-Berton & Clara Egger. RIC. Le référendum d’initiative citoyenne expliqué à tous. FYP éditions 2019; William Paul Cockshott & Karen Renaud, “Handivote: simple, anonymous, and auditable electronic voting”.Journal of information Technology and Politics, 6(1):60-80, 2009; P. Cockshott & K. Renaud (2010) “Extending handivote to handle digital economic decisions. In: ACM-BCS Visions of Computer Science 2010 International Academic Research Conference, 14-16 April 2010, Edinburgh, UK; Karen Renaud & Paul Cockshott, “Handivote: Checks, balances and voiding options.“ International Journal of Electronic Governance (IJEG), 3(3):273–295, 2010; Paul Cockshott, Karen Renaud, Tsvetelina Valcheva, “Democratising budgetary decisions with Handivote,” 63rd Political Studies Association Annual International Conference. The Party’s Over? 25 – 27 March 2013, City Hall Cardiff; Paul Cockshott, Karen Renaud, Tsvetelina Valcheva. “Putting citizens in charge of the democratic process. CELL phone voting as the technological key to participatory democracy.” 4th International Vanguard Science Congress. Mexico City. May 28-31, 2013.